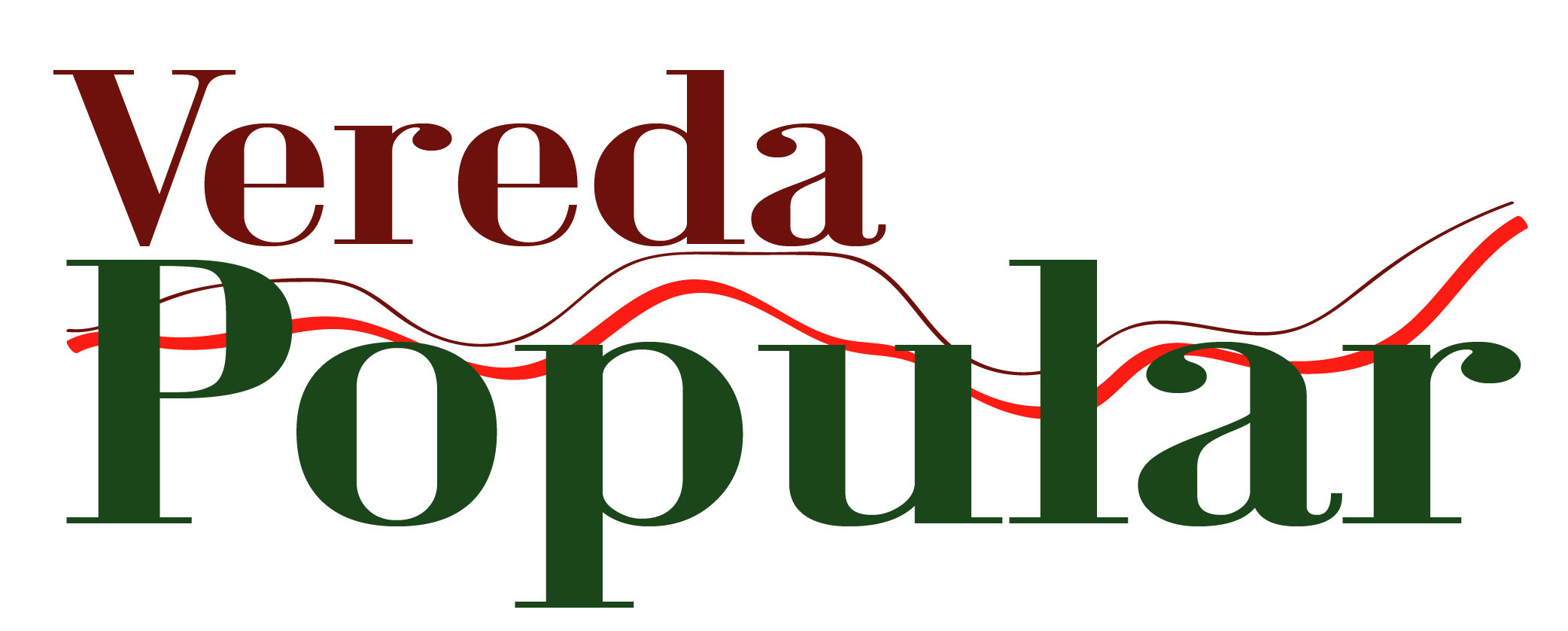Por Ronald Rocha—
Um exemplo típico de racialismo se desenvolveu após a formação das classes na porção americana onde posteriormente surgiria o Brasil como país autônomo. Conforme imagina o enfoque articulado por tal forma de pensamento, a escravização de populações africanas – das indígenas, pouco se fala – no território colonial português, depois no espaço nacional brasileiro, foi uma operação dos “brancos” e não da classe oligárquico-fundiária em crescimento, com suas extensões ou seus aliados no comércio, nos portos, nos serviços públicos, nas residências endinheiradas, na intelectualidade, nas minas de ouro e assim por diante.
Outro caso, não menos comum, foi editar os litígios das resistências populares às segregações como se fossem lutas entre a “raça discriminada” e os membros da outra, uma “elite biológica opressora”. Tal equação naturaliza os conflitos entre as classes ou suas frações, fatos eminentemente sociais, assim caldeados e mascarados por valores racialistas. O mesmo equívoco reside na expressão positiva por “igualdade racial”, que pressupõe a existência de “raças” diferentes hoje, cujos direitos e condições demandariam uma nivelação, quando as mesmas políticas poderiam ser fundamentadas por meio de outros conceitos.
O racismo vai além do racialismo ao asseverar não somente os equívocos naturalistas, mas também arguir a suposta superioridade física ou intelectual de uma sobre as outras “raças”, inclusive lhe creditando a exclusiva produção histórica de conquistas civilizatórias nos diversos terrenos. Tal expediente se propõe a justificar o saque operado pelos países coloniais sobre as populações ou territórios dominados, estabilizar com valores a escravidão, acrescer a extração de mais valia pelo capital ou facilitar o jugo imperialista, cada qual em sua temporalidade, circunstância e condição histórico-social, combinados entre si com frequência.
O racismo, invariavelmente, precisa do racialismo. Essa doutrina o acompanha de modo instável, mas com insistência obcecada e frequência tendencial. Não raro, situa-se bem próximo de sua palavra cognata, sempre a fundamentando e às vezes até lhe sendo coincidente. Mesmo quando a crença em distinções “raciais” no mundo atual se mostra sincera, bem intencionada e ocorrente nos setores democráticos “de baixo”, mantém o movimento por direitos fundamentais na defensiva e na passividade, pois o impele, compulsoriamente, a lutar com as armas teóricas do inimigo, que só e desde sempre lhe serviram.
Nessa perspectiva, o racialismo das vítimas se coloca, ingenuamente, sob a hegemonia cultural do racismo, isto é, dos algozes, ainda que tente conceder a si próprio a máscara do antiestablishment. Assim procedendo, inadvertidamente, abre mão da opção mais defensável, mais ampla, mais profícua e mais radical, oferecida pela genética molecular: esgrimir um princípio maior em seu favor. Trata-se da verdade, a melhor maneira – por ser rigorosamente científica e por exibir argumentos apodíticos – de refutar o mito em que se apoiam o preconceito e a discriminação. Lamentavelmente, o equívoco fez longa carreira.
Persiste uma tragédia intelectual nas ciências sociais dos novecentos, consolidada principalmente na sua primeira metade, mas duradoura. Foram décadas em que os estudos e os compêndios especializados nas duas vertentes antropológicas – física e cultural – mergulharam de várias maneiras no inferno dantesco da raciologia e assim forneceram oxigênio ao racismo. Nesse processo vergonhoso, confundiram totalmente a investigação científica sobre o passado – a paleoantropologia, objetivamente justificada por sobejas evidências materiais – com a faina de criar, manter ou reproduzir um mito pernicioso acerca do presente.
Frequentemente, moveram-se rumo a um darwinismo totalmente falsificado, porque o transportaram por sua própria conta e mecanicamente à realidade social. Trocaram, pois, as lutas entre as classes ou suas frações – tornadas incômodas no capitalismo já maduro para uma consciência burguesa então compelida, impreterivelmente, ao conservadorismo e ao imperialismo – pela disputa entre as tais “raças” em busca de suas ditas sobrevivências e prevalências, umas sobre as outras. O devaneio se mundializou na esteira da reação política, recepcionando as velhas justificativas da cruzada escravocrata e colonizadora.
O equívoco se mantivera no Brasil desde o II Império, assumindo a forma de uma busca pelo “branqueamento populacional”. Depois, destacou-se dos anos 1950 em diante, à época penetrando, surpreendentemente – ou melhor, mantendo-se, pelo menos em certos casos –, nos próprios movimentos antirracistas. Entrementes, as elaborações referentes aos fenômenos culturais ficaram no purgatório etnográfico, do qual saíram vários acadêmicos estruturalistas por diversos caminhos. Não raro, a passagem – talvez preferencial – foi pelo ambiente weberiano, a nova sedução concorrente ao marxismo, no início do século XX.
Alguns ficaram por lá, especulando com as construções hostis às concretudes sociais, a exemplo dos “estamentos”, “castas” e “tipos ideais” – superestruturais –, que tanto sucesso fizeram nas instituições acadêmicas. Existiram também os que, mesmo democratas e antifascistas militantes, a exemplo do etnólogo semidurkheimiano Paul Rivet, mantiveram o racialismo sob as formas de sua historicização e integração às realidades socioculturais.1 Outros acabaram chegando ao marxismo, como foi o caso de Florestan Fernandes, que deixou às novas gerações um respeitável legado intelectual.
No entanto, as ciências da sociedade, pelo padrão formulado nos EUA e largamente oferecido em cursos de universidades brasileiras, puxaram muitos pensadores para trás e mantiveram liames com as sinistras chamas da raciologia, que há pouco tempo haviam fumegado em Auschwitz. Antes, porém, Ralph Linton – célebre por se apresentar em sala de aula com a farda militar engavetada no fim da I Guerra Mundial e também por denunciar como comunistas os seus desafetos acadêmicos – restaurara nos anos 1930 o abismo entre os seres humanos, então em forma de “bread, raça e stock”.
A última parcela do esquartejamento biológico do gênero em tela se dividiria em três componentes, apresentados sem preocupação inovadora em face dos retalhamentos antecessores: “o caucásico ou branco, o negroide ou preto e o mongoloide ou amarelo”. Sobre as “raças” pertencentes ao primeiro “stock”, acabou diferenciando “pelo menos cinco”: “nórdica”, “alpina”, “mediterrânea”, “armênia” e “indiana”. Tal ordenamento expositivo já indicava um critério hierárquico. Ademais, admitiu, implicitamente, que o número ainda poderia crescer, tal como propuseram muitos.
Aliás, o renomado antropólogo afirmou que sua própria “terminologia ainda é limitada demais para uma classificação realmente precisa”. Logo, via com bom gosto a multiplicação conceitual, que julgava uma prova de precisão e completude. Mas, tentando separar-se de um determinismo geográfico ao seu tempo já indefensável, o professor da Columbia University recorreu à esfera social para explicar suas proposições. Mesmo assim asseverou que as características físicas e psicológicas do “bread” nada mais eram do que a “resposta a um conjunto especial de condições ambientes”.
Arriscando-se na história humana, relativizou a própria visão naturalista e reconheceu a importância do vetor cultural, mas caiu no dualismo entre os dois critérios, vez que os tratava como princípios metafísicos a serem conciliados no discurso. Com semelhante preocupação, escreveu que a “superioridade” gerada pelas “qualidades inatas” seria “pelo menos discutível”, assim como que os valores, os saberes, as invenções, as técnicas e os hábitos jogariam papéis diferenciadores nas sociedades humanas. Manteve, porém, como pressuposto, a “supremacia” norte-ocidental:
“A prova real da superioridade física do homem branco […] estaria em […] sua capacidade de trabalhar mais e procriar mais livremente que os nativos em qualquer ambiente. […] Não se discute que o branco se tenha mostrado superior […] à maioria das raças que têm enfrentado […]. A expansão branca é um fenômeno muito recente; se o sucesso do branco como conquistador vem de qualidades inatas, estas qualidades por sua vez devem ser resultado de mutações que não se teriam realizado antes do século XV.”2
A sua tese principal, mesmo criticando a formulação ideativa que sustentava uma determinação do comportamento pelas “qualidades inatas” em cada fração da humanidade, no fundo a sustentava: somente afirmava que tais vetores naturais dos “grupos não se modificam com tão espantosa velocidade”. Portanto, conforme o seu entender, os fatores inerentes agiriam tão só em ritmo diverso do retoricamente apresentado. A sua disputa contra Franz Boas teve, pois, alguns motivos além das reles “alcaguetagens” políticas e das futricas por titularidades catedráticas.
O autor notório de O Homem: uma introdução…, preferiu esconder-se na esfera cultural, para disfarçar o seu naturalismo empirista em resquício. Já o professor de Lévi-Strauss e Gilberto Freyre, mesmo crendo na correspondência estrutural entre a evolução e as formas subjetivas, exagerou a independência dos fenômenos étnicos. Enquanto aquele velho quaker se adaptou ao militarismo pró-imperialista, esse prócer do relativismo cultural, que antecipara o multiculturalismo e a dissolução “pós-moderna” do sujeito, integrou-se aos movimentos antirracistas e pela paz.3
No entanto se mantiveram – cada qual de seu modo próprio – aferrados aos dogmas racialistas. Respectivamente, o primeiro persistiu no viés belicista e discriminatório; e outro inaugurou a versão convivencial ou light. Assim, acabaram ficando, ambos, associados à ferrenha tradição estadunidense. Em certo contraste, as escolas europeias, fundadoras ou periféricas da nova disciplina por si reivindicada como científica – de Auguste Comte, passando por Émile Durkheim e Vilfredo Pareto, até Max Weber –, relutaram em considerar os conceitos “raciais” em suas profusas teorias e obras. Mas houve quem cedesse.
Os sociólogos “clássicos” – entre os quais tem sido indevidamente incluído Karl Marx, pensador multifacetado e quadro revolucionário que transcende a qualquer disciplina específica – nunca desacreditaram nas classificações “raciais”. Simplesmente as ignoraram como fatos sociais dignos de nota. A exceção foi um jurista, economista e sociólogo prussiano, cuja renúncia teve ar de moratória. O célebre aderente à Escola Histórica Alemã suspendeu a espinhosa questão, porém, só até surgir uma definição “científica” sobre a incorporação dos compartimentos biológicos:
“É de esperar-se que a situação em que tomar a ‘raça’ como elo final da cadeia causal meramente documentava o nosso não-saber […] possa vir a ser lentamente superada, através de um trabalho metodologicamente documentado. […] É apenas na medida em que [a antropologia] possa proporcionar-nos conhecimentos deste tipo que os resultados serão suscetíveis de interesse e que a ‘biologia racial’ adquirirá uma importância superior à de um mero produto da moderna febre de instaurar ciências.”4
O futuro prepararia cedo, aos que admiram o estratagema intelectual weberiana da espera, uma dupla decepção: primeiro, as elaborações antropológicas de “conhecimentos” jamais chegariam; no fim do século, a temática “racial” passaria pela desautorização da genética. Mas o autor, antecipando-se à sua própria desilusão, tentou mover-se, depois de presenciar in loco – EUA, em 1904 – as realidades nuas e cruas da segregação. Ali também conhecera um, por assim dizer, “racialismo democrático”, defendido pelos ativistas negros e tematizado por Du Bois em seus escritos.5
Daí foi um passo para surgirem ideações como a de que o divisor biológico gerara comunidades conflitivas e que tal contencioso estaria na essência da sociedade norte-americana mesmo que mediado pelo ambiente social. Para fugir à causalidade natural e geográfica, temida por evocar distinções biológicas como leis metálicas, Weber lançou mão do velho geist, sempre disponível à sua trajetória idealista, mas enfatizando a cultura e a etnia como novos repositórios das “raças” que teimavam em permanecer como referência. Deu certa guinada, mas no interior da mesma concepção.
Ligou-se, portanto – mas com peculiaridade –, à feição comum no pensamento estadunidense, que reciclava os dogmas para remi-los. Talcott Parsons, por exemplo, jamais abandonou a noção de “raças” como conceito válido para o mundo atual. O pai do “estrutural-funcionalismo”, defensor da civilização na forma ocidental – que julgava o suprassumo da humanidade – chegou a situar o seu País no degrau mais alto alcançado no desenvolvimento social, mergulhando assim em simplório nacionalismo etnocêntrico.
Portanto, esclarecem-se os motivos instigadores à minimização dos conflitos internos ao seu imperialista “organismo”, mormente o contencioso entre “negros” e “brancos”, impossível de se restar ignorado. A figura que presidiu a Sociedade Americana de Sociologia inaugurou a falácia conforme a qual o racismo “velado”, como aqui julgava existir, seria mais danoso do que a segregação lá institucional. Semelhante asserção, a seguir citada, passou a ser imitada por agrupamentos no Brasil, em oposição à também falsa “democracia racial”:
“Penso que o problema relacionado às relações raciais tem uma perspectiva melhor de resolução nos Estados Unidos, em parte porque a linha divisória entre negro e branco tem permanecido desenhada com rigidez, já que o sistema se mostra polarizado com maior agudeza, do que no Brasil. Tal situação gera uma questão em face da qual é mais difícil fugir, vez que se coloca nitidamente, ainda que sua resolução dependa, como é lógico, de um conjunto complexo de condições.”6
O problema é bem mais profundo, não apenas cingido às esferas institucional e cultural. Se aqui a “rigidez” fosse aplicada conforme o padrão estadunidense, o preconceito seria inviável, pois a grande maioria da população possui a “gota de sangue”. Semelhante sinal está não só entre os proletários, como entre a massa de capitalistas e de pequeno-burgueses, urbanos e rurais. Sérgio Pena e os seus associados o provaram.7 Logo, a “origem” se universalizaria e o pretexto se dissolveria. Tal resquício de “inferioridade”, a ser ostentado para dividir o povo, seria inútil ao exercício da hegemonia e da superexploração. Eis porque aqui a “marca” vige como notou, pioneiramente, Oracy Nogueira.8
Outro caso, embora de viés um tanto quanto heterodoxo entre os “cientistas sociais” norte-americanos, foi o de Stuart Chase. Semelhante autor mereceu também o amparo dos financiamentos institucionais que, durante a guerra fria, brotaram como cogumelos com a intenção de bloquear o espaço às elaborações inspiradas no marxismo e nos interesses nacional-populares. A edição e a divulgação de uma obra sua foram bancadas pela “Missão Norte-Americana de Cooperação Econômica e Técnica no Brasil em Prol da Aliança para o Progresso”, cujo nome rivaliza em tamanho com a pretensão de influir na hegemonia cultural e política, especialmente no âmbito acadêmico.
Note-se: um de seus livros, redigido e publicado nos anos 1950 – Introdução às ciências sociais –, dedicou ao tema “raças” uma seção inteira. O espaço foi suficiente para enfocá-las em suas várias facetas, e o fez com nítida preocupação liberal, segundo se nota em três subtítulos: “Preconceitos vs discriminação”; “Crenças desacreditadas”; e “Decisão histórica”. Todavia, o racialismo, saturador perene da sociologia naquelas plagas onde pontifica o Tio Sam, revela-se no texto com solar clareza, mesmo que de ponta-cabeça: uma raça única, que teria existido anteriormente, acabaria pulverizando-se nas várias outras. Eis a crítica que dirige ao racismo conforme o mainstream vigente:
“Essa espécie [a humana] cobriu a terra e no devido tempo começou a diversificar [sic.] entre as várias raças que agora conhecemos – escura, amarela e branca”.9
O viés racialista se firmou ao longo dos anos e se reproduziu entre os múltiplos nichos – seja por meio do ativismo democrático, seja nas elaborações acadêmicas –, dos Great Lakes, ao norte, até o Rio Bravo, ao sul, e da costa leste à Califórnia. Como a literatura especializada o permite, pode mesmo ser classificado em distintas correntes, segundo segue. O prisma “étnico-racial”, surgido no período entreguerras, concebe o segundo adjetivo da expressão composta que o designa, como tipo intrínseco à conformação dos agrupamentos e como relevante marcador sobre as suas origens, peculiaridades ou heranças culturais.
Já o ângulo “racial-nacionalista”, muito influente nos anos 1960-1980, incluindo em agrupamentos políticos, postula que os setores oprimidos seriam equivalentes a protonações intracolonizadas, consolidadas ou potenciais. A ótica “racial-construtivista”, evidenciada especialmente nos anos 1980, vê a identidade como algo produzido por meio do seu próprio e constante processo histórico-político. Por fim, a visão que pode mais propriamente ser nomeada como “atributiva-racializante”, surgida no século XXI, pretende imprimir a particularidade ao destinatário mediante uma escolha subjetiva de “sentido” e de “poder”.10
São tendências que, mesmo digladiando-se umas contra outras, partilham consideráveis denominadores comuns. Todas, sem uma única ressalva, mantêm-se atreladas solidamente à palavra “raças”, mesmo que, para tanto, precisem lançar mão de suas derivações, inclusive criando neologismos. Fazem-no com tamanha convicção e teimosia que preferem o contorcionismo de reciclá-la – mesmo suportando as cargas negativas legadas pela biologia vulgar, pelo racismo, pelo colonialismo, pelo nazifascismo e pelo apartheid –, em vez de acolherem o diagnóstico propiciado pela genética e de considerarem quaisquer outras formulações alternativas que lhes sejam oferecidas.
Todas recusam, também, com nitidez inofuscável, o princípio filosófico fundamental, ou seja, o ser precede a consciência. Desejam, com tal postura, redimir a superada noção biológica de “raças” humanas, porém, pelo alternativo recurso a uma demiúrgica subjetividade, além de fixar o seu enfoque nas “estruturas” étnicas, ideológicas, construtivas ou autoatributivas. Todas, por fim, ignoram o ser tipicamente social – o Gesellschaftlichen Seins11 –, pois, quando inquirem as relações que ultrapassam o microcosmo das comunidades primitivas, substituem as lutas entre classes pelas questões “raciais”, não raro as nomeando por meio de significantes remissivos a “castas” ou “etnias”.
A exceção, nos EUA, poderia ter sido protagonizada pelas vertentes antropológicas e sociológicas inspiradas no marxismo, principalmente pelas que o assumem como concepção de mundo, método analítico e formulação revolucionária. Note-se que perceberam o racismo como ideologia e política incrementadoras de mais valia, visando a fomentar – cotidiana e institucionalmente, no metabolismo imanente ao capital – os mecanismos especiais que favorecem a sobre-exploração dos segmentos proletários negros, latinos, indígenas, orientais ou mestiços, bem como a redistribuição desigual dos bens ou serviços na esfera da produção, do mercado e do consumo.
Os marxistas frisam que o capitalismo se apropria de formas precedentes, reciclando-as, caso necessário, em benefício de seu metabolismo. Nos EUA, certos socialistas, por inércia cultural ou descaso pela genética, seguiram referindo-se aos fenótipos como “raças”, em zona eclética influenciada pelo racialismo. Angela Davis, no combate ao racismo e patriarcalismo, manteve a noção.12 Também Asad Haider fez a concessão, ao criticar os dilemas e armadilhas “da identidade”.13
No Brasil, alguns intelectuais ecoaram os sons antropológicos e sociológicos emitidos pelas produções anglo-saxônicas. Durante os 1870, com Nina Rodrigues14 – um antropólogo eugenista e cristão piedoso muito prestigiado na intelectualidade ao final do século XIX –, a noção de “raças”, tangida pela escravidão mercantil e reforçada pelo surto naturalista mundial, fincou seus pés na sociologia nascente. Mesmo seguindo as trilhas europeias e norte-americanas, o conceito subsistiu à inflexão idealista que antes rumara para o culturalismo de Gilberto Freyre,15 assim como para o viés etnográfico de Arthur Ramos.16
Ambos, pelo menos, apresentavam preocupações centradas na realidade nacional e, portanto, estabeleceram um veio de originalidade. Movidos pela factibilidade óbvia da intensa “miscigenação” havida na colônia e depois no País-Nação, preferiram mitigar sobremodo a importância das “raças”, mesmo que as continuassem afirmando como elementos precursores da chamada “coexistência”. Entende-se porque, inexistindo a segregação cristalizada em lei – ou seja, institucionalizada pelo Estado –, insistiram em uma “democracia racial” que, além de quimérica, repetia implicitamente a pseudociência que infestara os livros de biologia.
Considerando-se a tradição de seus antecessores – em que pontifica o elemento burguês-oligárquico –, há se destacar os esforços pioneiros de Costa Pinto,17 Guerreiro Ramos18 e Oracy Nogueira.19 No meio do século XX – quando entravam em ascensão as lutas populares pelas reformas de base, até o período aberto pelo golpe de 1964, que implantou pela violência o regime ditatorial-militar e o manteve por 24 anos– elucidaram o comparecimento maciço dos negros no proletariado. Lembre-se também o número de mulatos, mamelucos e cafuzos, que aumentou exponencial e incessantemente após o Ato Abolicionista.
Mesmo ainda continuando a falar em “raças”, tais estudiosos e professores desbravaram novas trilhas para expor a discriminação concreta que atinge os seres humanos reais no Brasil, seja em suas relações produtivas e distributivas, seja na vida política, seja em seus laços individuais, sem o subjetivismo e os mitos que as mascaram. Portanto, alocaram o mito biológico em posição acessória nos seus trabalhos. Por exemplo, Florestan Fernandes20 percorreu tal caminho. Depois, a passagem foi obstruída: readmitiu-se a ideia de “raças” como fator político, retomando-a como conceito, etnia, valor, construção, autoatribuição e ideologia.
Tal roteiro incorporou, lastimavelmente, o “complexo de vira-latas”21, pela importação acrítica de modismos norte-americanos e da canônica “globalização” dita pós-moderna. Hoje, os seus autores vivem uma dispersão em multifacetados “movimentos sociais” temáticos, cada qual digerindo ao seu modo a sopa de fragmentos intelectuais passados – com ingredientes pragmáticos, empiristas, weberianos, irracionalistas e até com pretensos temperos marxianos –, mas sem a coragem de criticar o racialismo.
Já que haviam falido as “raças” como conceito válido para os estudos atuais, o busílis para o racialismo passou a centrar-se na recuperação do prestígio perdido. Na seara hostil ao materialismo histórico, a “solução” encontrada no gueto intelectual foi o arreglo. Em face do impasse há muito cristalizado na dicotomia empirista “raças” versus “etnias”, o pretexto foi uma fuga inútil: “restaurar”, por meio de uma subjetivação autossuficiente, o primeiro termo da equação, fundi-lo com hífen ao segundo e insistir na salvação de ambos.
Ademais, os símbolos, estruturas, construções, ressignificações ou autoatribuições, fizeram com que as “raças” surfassem nas ondas momentâneas e pegassem caronas semânticas no discurso “in” das “novidades”. Assim, criam-se composições pleonásticas ou incoerentes, como racismo “social”, “estrutural”, “digital”, “minerário”, “ambiental” e outras, buscando alcançar uma desejada evidência. Vale tudo, menos a ciência. Semelhante atitude contradiz o combate ao negacionismo, tão importante para deter a Covid-19.
A incoerência atinge a história, quando “cancela” pelo revisionismo a Lei Áurea como “coisa da elite”, sem cunho democrático e progressista. Ora, sua promulgação expressou as lutas vitoriosas, nas formas de movimento abolicionista e rebeliões de cativos. Ademais, liberou a força laboral rumo ao mercado burguês nascente, mesmo que para receber salários miseráveis, desemprego e posses precárias. Também nega os fatos quando a desdenha como a “última no mundo”, ao desconhecer o trabalho forçado no Eixo nazifascista e os 1o países onde a escravidão só terminou depois: Marrocos, 1956, Arábia Saudita, 1962, e Mauritânia, 1981.
Outra esquiva muito comum tem sido colocar um sinal de igualdade nas diversas espécies de preconceito, reunindo-as sob a mesma tenda “generosa” do racismo e as reduzindo a meras empiricidades particulares de uma nova universalidade abstrata. O argumento esgrimido para semelhante operação metafísica é a suposta e mecânica manutenção do velho escravagismo, que ainda seria hegemônico. Surge, assim, mais um artifício para esconder a formação econômico-social capitalista e o monopólio latifundiário.
Portanto, à fraude “biológica” se agrega o irracionalismo filosófico, em busca de construções historicistas e puramente volitivas, sempre visando a reforçar um conceito vulgar de “poder” – mais próximo ao alpinismo individual – na semiótica vocabular e na esfera mítica. Tal processo desagua na tentativa isolacionista de preservar o identitarismo, especialmente nas suas variantes mais sectárias, particularistas e segregacionistas. Chega, pois, em posturas caudatárias da sociologia e do politicismo com inspiração liberal.
Qualquer meio lhe tem serventia, menos abandonar o conceito ruinoso de “raças”. Valem as especulações, mas nunca destacar os males da causa que a todos atinge, qual seja, o capital como relação precipuamente social. Põem-se no primeiro plano as identidades ultraparticulares, mas não as genericidades concretas, referentes à coletividade maior: as lutas entre classes, a unidade nacional, o regime democrático, o movimento popular como conjunto e o proletariado como “a possibilidade positiva de emancipação”22.
Algumas vozes o perceberam, do seu modo. Em 2007, quando a Câmara e o Senado apreciavam projetos legislativos antirracistas, mas impregnados pelo prisma “positivo” do racialismo, Bolívar Lamounier criticou “a inclusão da ideia de ‘raça’ entre os pilares conceituais do Estado brasileiro”23, referindo-se à legislação. Manifestando-se na mesma coletânea, os autores do Preâmbulo declararam que a “A solução para o combate ao racismo […] não pode absolutamente ser a construção de políticas públicas com base na ‘raça’.”24
Claro está que o engano racialista entre os “de baixo” não deve ser visto como simples invenção conspirativa, muito menos algo apenas exógeno, ainda que a sua ocorrência ressalte os interesses dos agentes geopolíticos, mantidos pelos países imperialistas sobre as nações dependentes, na sua introdução e no seu reforço. De fato, a intromissão encontrou acolhida em causalidades internas, vez que a formação econômico-social brasileira preservou antigos elementos culturais do racismo e uma primazia que os acoitou em seu favor.
Eis porque urge diferenciar os centros monopolista-financeiros – que buscam ampliar sua taxa de mais valia e sua hegemonia – dos justos anseios mantidos pelas populações oprimidas, mesmo que apareçam como “questão racial” ou de “minha raça”, conforme verbaliza Cornel West.25 Logo, reside na política o trabalho crucial de fortalecer a coerção contra o preconceito e a discriminação, concomitantemente à interlocução, com novos paradigmas, com as maiorias nacionais, cuja diversidade somática é inigualável.
1 CONKLIN, Alice L. Exposer l’humanité – Race, ethnologie et empire en France (1850-1960). Paris, Publications Scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle, 2015.
2 LINTON, Ralph. O Homem: uma Introdução à Antropologia. São Paulo, Livraria Martins Fontes, 1965, pp. 53, 56, 57, 65 e 66. (CA; Itálico do Original, doravante, IO)
3 BOAS, Franz Uri. Race, Language and Culture. Chicago, University of Chicago Press, 1995.
4 WEBER, Maximilian Karl Emil. A Objetividade do Conhecimento das Ciências Sociais. In: COHN, Gabriel (org.); FERNANDES, Florestan (cons.). “Weber – Sociologia”. São Paulo, Ática, 2003, p. 85. (CA)
5 DU BOIS, Willians Eduard Burghanrdt. The study of the negro problems. In: “The annals of the American Academy of Political and Social Science”, v. 11. Philadelphia, A Sage Publicacions Inc., 1898, pp. 1 a 23. ZUCKERMAN, PHIL (org.). The social theory of W. E. B. Du Bois. California, A Sage Publications Company, 2004.
6 PARSONS, Talcott. The problem of polarization on the axis of color. In: FRANKLIN, John H. (org.). “On color and race”. Boston, Houngton Mifflin Company, 1968, pp. 352 e 353. (TA)
7 PENA, S. D. J. História genética do povo brasileiro. In: “Vídeo IEAT UFMG”. YouTube, 23/12/2022 (C4/23) PENA, S. D. J. (org.). Homo Brasilis: Aspectos Genéticos, Linguísticos, Históricos e Socioantropológicos da Formação do Povo Brasileiro. Ribeirão Preto, Funpec, 2002.
8 NOGUEIRA, Oracy. Preconceito de marca e preconceito de origem – sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil. In: “Anais do XXXI Congresso Internacional dos Americanistas”, vol. 1. São Paulo, 1954, pp. 409 a 434.
9 CHASE, Stuart. Introdução às ciências sociais. São Paulo, Sociologia e Política, 1956, pp. 7, 130, 135,138 e 140. (CA)
10 OMI, Michael; WINANT, Howard. Racial Formation in the United States. New York, Routledge & Paul Kegan, 2014.
11 ROCHA, R. Teses Tardias – Capitalismo e Revolução Social no Brasil Moderno. São Paulo, Editora Interferência, 1989, p. 114 e n. 23.
12 DAVIS, Angela Yvonne. Mulheres, Raça e Classe. São Paulo, Boitempo Editorial, 2016.
13 HAIDER, Asad. Armadilha da identidade – raça e classe nos dias de hoje. São Paulo, Veneta, 2019.
14 RODRIGUES, Raymundo Nina. Os africanos no Brasil. São Paulo. Companhia Editora Nacional, 1977. RODRIGUES, R. N. As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Rio de Janeiro, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2011. www.centroedelstein.org.br (C4/23). RODRIGUES, R. N. A loucura epidêmica de Canudos: Antônio Conselheiro e os jagunços. In: “Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental”, a. III, no 2. São Paulo, 2000, pp. 145 a 157. GALDINI, Ana Maria; ODA, Raimundo; DALGALARRONDO, Paulo. Uma preciosidade da psicopatologia brasileira: A paranoia nos negros, de Raimundo Nina Rodrigues. In: “Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental”, a. VII, no 2, 2004, pp. 147 a 160.
15 FREYRE, Gilberto de Mello. Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro, Record, 1998. FREYRE, G. de M. Sobrados e Mucambos – Decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. São Paulo, Global, 2013. https://gruponsepr.files.wordpress.com (C4/23).
16 FAILLACE, Vera (org.). Arquivo Arthur Ramos: inventário analítico. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 2004. FERNANDES, F.; et al. Arthur Ramos (1903-1949). In: “Revista do Museu Paulista”, vol. 4. São Paulo, 1950.
17 COSTA PINTO, Luiz de Aguiar. O negro no Rio de Janeiro: relações de raça numa sociedade em mudança. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1952. BEAGLEHOLE, Ernest; COSTA PINTO, L. de A.; FRAZIER, Franklin; GINSBERG, Morris; KABIR, Humayun; LÉVI-STRAUSS, Claude; MONTAGU, Ashley; et al. The Race Question. Unesco, 1959. www.unesco.org (C4/23) COSTA PINTO, L. de A. Estructura de Classes y Cambio Social. Buenos Aires, Paidós, 1874.
18 RAMOS, Alberto Guerreiro. Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Rio de Janeiro, URFJ, 1995. SOARES, Luiz Antônio Alves. A Sociologia Crítica de Guerreiro Ramos – Um estudo sobre um sociólogo polêmico. Rio de Janeiro, Publicações CRA-RJ, 2006, pp. 128 a 141.
19 NOGUEIRA, O. Tanto Preto, Quanto Branco – Estudos de Relações Raciais. São Paulo, T. A. Queiróz, 1985.
20 FERNANDES, F. A integração do negro na sociedade de classes – No limiar de uma nova era. São Paulo, Dominus, 1965. SOARES, Eliane Veras; BRAGA, Maria Lúcia de Santana; COSTA, Diogo Valença. O dilema racial brasileiro: de Roger Bastide a Florestan Fernandes ou da explicação teórica à proposição política. In: “Revista Sociedade e Cultura”, vol. 5, no 1. Goiânia, 2007. revistas.ufg.br (C4/23)
21 RODRIGUES, Nelson. Complexo de vira-latas. In: RODRIGUES, N. “À sombra das chuteiras imortais”. São Paulo, Companhia das Letras, 1993, pp. 51 a 52.
22 MARX, K. Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. In: “Manuscritos econômico-filosóficos”. São Paulo, Boitempo Editorial, 2004, p. 92.
23 LAMOUNIER, Bolívar. Prefácio. In: Peter Fry et al (org.). “Divisões…”, cit., p. 9.
24 SOTJ, Bila; Miranda, José Carlos; MAGGIE, Yvonne. Preâmbulo. In: Peter Fry et al (org.). “Divisões…”, cit., p. 14.
25 WEST, Cornel. Questão de raça. São Paulo, Companhia de Bolso, 2021, pp. 11 e 17.
Os artigos assinados não expressam, necessariamente, a opinião de Vereda Popular, estando sob a responsabilidade integral dos autores.