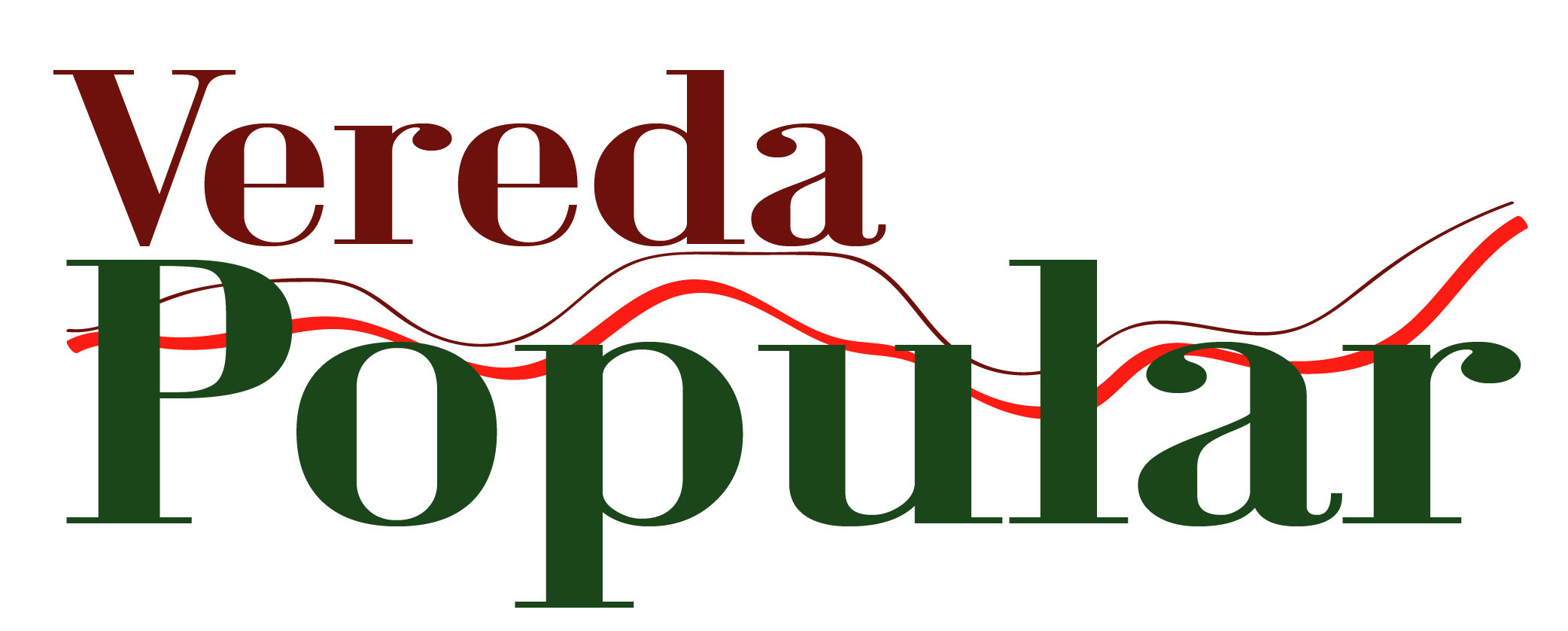Por Marcelo Auler*—
Ao optar por narrar a Historia do ex-deputado Rubens Beyrodt Paiva a partir do drama familiar de sua esposa, Maria Eunice Facciola Paiva, e dos cinco filhos do casal – Vera Silvia, Maria Eliana, Ana Lucia, Maria Beatriz e Marcelo –, o cineasta Walter Salles produziu um filme impactante, repleto de afeto e emoção.
Deu visibilidade a um dos inúmeros crimes da ditadura civil-militar, que as novas gerações jamais tinham tomado conhecimento.
Porém, ao abrir mão do relato policial/criminal do episódio macabro, o filme deixou de revelar os bastidores de uma novela macabra.
São informações da luta de muitos – não apenas seus familiares e amigos próximos – para desvendar as últimas 60 horas de vida do ex-deputado e os motivos pelos quais ele permanecerá como um “desaparecido político”. História que teve seu final revelado em 2014, 43 anos após sua morte em 21 de janeiro de 1971.
O assassinato de Paiva nunca foi assumido pelo Exército, que até tentou negar sua passagem pelo quartel do 1º Batalhão da Polícia do Exército (1º BPE), à Rua Barão de Mesquita, Tijuca, onde funcionava o Destacamento de Operações de Informações (DOI).
Algo impossível de esconder, afinal Eunice e a filha Eliana foram levadas presas para o mesmo quartel e ali, ao ser liberada, a esposa de Paiva avistou o carro com o qual o ex-parlamentar saiu de casa, dirigindo.
Posteriormente no local passou a funcionar também o CODI – Centro de Operações de Defesa Interna – formando a sigla DOI-CODI.
A prisão do ex-deputado, eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 1962 e cassado em 1964 logo após o golpe, foi consequência das prisões, na noite de 19 de janeiro, de Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro e Marilene Corona Franco, a Leninha, ao desembarcarem de um vôo de Santiago do Chile.
Na época, o país andino era governado pelo presidente Salvador Allende, do Partido Socialista. As duas retornavam da visita a Luiz Rodolfo Viveiro de Castro, o Gaiola (filho de Cecília), casado com Jane Corona Viveiro de Castro (irmã de Marilene). Ambos exilados.
Paiva repassava as correspondências
Foi o primeiro voo Santiago–Rio após a chegada ao Chile dos 70 presos políticos trocados pelo embaixador suíço Enrico Bucher, raptado no Rio em dezembro de 1970. Por isso houve um forte controle da repressão sobre a identidade dos passageiros que desembarcavam e de seus pertences.
Cecília e Marilene traziam correspondências e documentos de exilados políticos para familiares, amigos e lideranças dos grupos de resistência. Uma delas destinada a Carlos Lamarca – líder do grupo Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), como relatou, em setembro de 2000, Luiz Paulo Viveiro de Castro, outro filho de Cecília.
Por medida de segurança, as correspondências não identificavam os destinatários. Nos papéis encontrados em poder de Marilene, porém, havia a orientação de que um dos pacotes deveria ser entregue a “Rubens, que poderia ser contatado através de um determinado número de telefone”.
Paiva, poucos sabiam, tinha a missão de repassar as correspondências a intermediários que as levariam aos destinatários.
A partir dessa descoberta, segundo o Ministério Público Federal, “Marilene foi forçada, mediante tortura cometida pessoalmente pelo comandante da IIIª Zona Aérea, da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, a telefonar para o número indicado no pacote que recebera e dizer a “Rubens” que as cartas do Chile haviam chegado.
O oficial portava na ocasião um radiocomunicador e, assim que a mensagem foi transmitida por telefone, começou a gritar: ‘já cercou a casa do homem?’, ‘ele está em casa, podem invadir’”.
Foi o que levou os agentes do Centro de Inteligência da Aeronáutica (CISA) a “invadirem a casa do bairro do Leblon. O prenderam em 20 de janeiro, feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, capital do antigo Estado da Guanabara. Os agentes, no aguardo de um possível contato/intermediário, ficaram na casa até o dia seguinte.
Como narrou Luiz Paulo no documento escrito em 2000, “Carlos Alberto Muniz, o ‘Adriano’ que saíra e voltara ao país como clandestino, era o contato com todas as principais organizações em atividade no país. Ele chegou a ir até a esquina da casa de Rubens Paiva para o encontro. Mas, desconfiado pela não observância de alguns detalhes de segurança – telefonou para a residência e foi atendido por Eunice, que disse que Rubens viajara – tratou de ir para o ‘ponto’ alternativo e acabou indo embora”.
Na mesma noite, três jovens foram à residência dos Paiva visitar a amiga Maria Eliana. Acabaram detidos e levados para o Setor de Diligências Reservadas da Polícia Civil do Estado da Guanabara, que funcionava no Alto da Boa Vista. Ali passaram a noite até serem liberados na manhã seguinte.
Marilene: “ele suava e dizia, ‘nunca vi essa mulher’”
Ao ser preso, o ex-deputado foi levado para o Comando da IIIª Zona Aérea, ao lado do aeroporto Santos Dumont. Ali sofreu as primeiras agressões físicas.
No final da tarde, após a procissão de São Sebastião pelas ruas da cidade, foi transferido para o 1º BPE, na Tijuca. No carro da Aeronáutica, ao seu lado sentou-se Cecília. Eles se conheciam, uma vez que ela foi professora de Eliana no Colégio Sion. Mas não se falaram.
Os primeiros relatos das torturas sofridas por Paiva surgiram quando Cecília ganhou liberdade.
Na tarde de 21 de janeiro, após ser reconhecida por um oficial, marido de sua prima, foi transferida do quartel da Tijuca para o antigo Batalhão de Artilharia de Costa, no Leblon. Ali permaneceu por dois meses se recuperando das marcas da tortura que sofrera.
Ao ser finalmente liberada, recebeu em sua casa Eunice, o advogado Lino Machado, amigo da família, o editor Ênio Silveira – dono da editora Civilização Brasileira – e duas freiras do colégio Sion: as irmãs Luisa Helena e Ana Regina.
Na ocasião relatou o encontro com Paiva no carro que transportou os dois para o DOI-CODI (Leninha foi em outro carro).
Lembranças de Cecília: “Com os olhos esbugalhados”
Esse relato repetiu-se na carta que ela depois endereçou a Eunice e no seu depoimento, prestado em 1986, no Inquérito 91/86 aberto pelo DOPS, da Superintendência da Polícia Federal (PF) do Rio.
Em 1978, seu marido, Eurico Viveiros de Castro, não permitiu o contato dela com os jornalistas Fritz Utzeri e Heraldo Dias, do Jornal do Brasil, os primeiros a apurarem em detalhes o desaparecimento/morte de Paiva. Alegou que ela ficou traumatizada com a prisão, experiência que deseja esquecer.
Em depoimentos posteriores, Marilene relatou que na Aeronáutica, “foi chamada e confrontada com Rubens Paiva, que não conhecia. Antes de ambos serem postos frente a frente, ouviu gritos e ameaças e uma voz dizendo ‘não sei de Jane nem de Luiz Rodolfo’. Lembra-se que Rubens Paiva era um homem gordo e naquela ocasião estava com o rosto muito vermelho, como se estivesse muito nervoso ou mesmo levado alguns tapas na face. Ele suava muito e dizia: ‘nunca vi essa mulher’. A declarante também afirmava nunca ter visto a vítima”.
“Aqui não se tortura, isso é uma guerra”
No inquérito, Cecília revelou que, ao ver Paiva no carro, encontrou “um homem com as mãos amarradas, com a camisa em desalinho, tendo algumas manchas de sangue sobre a mesma e o que mais marcou a declarante foi a fisionomia do mesmo o qual estava com os olhos esbugalhados; que estava bastante vermelho naquela ocasião; que evidentemente aquele homem estava vivo até aquele momento”.
Relembrou ainda que sofreu um desmaio quando estavam sendo interrogados, logo após ouvir Paiva se identificar.
Em seu livro “Feliz Ano Velho” (São Paulo: Círculo do Livro, 1984), Marcelo Rubens Paiva narra ter ouvido de Cecília os motivos dos primeiros espancamentos sofridos por Paiva no quartel do Exército.
Na realidade, ele deve ter feito confusão da autora da informação, uma vez que a própria Cecília disse ter desmaiado.
Logo. a informação pode ter partido de Leninha, que Marcelo refere-se como “outra mulher”, que reclamou dos maus tratos em Paiva.
Diz o livro:
“Segundo versão de dona Cecília [Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro], ela, outra mulher e meu pai permaneceram de pé muito tempo, com os braços pra cima, num recinto fechado. Com a longa duração do castigo, dona Cecília fraquejou, sendo amparada por meu pai, que estava ao lado dela. A atitude dele irritou o chefe do interrogatório, descrito como um oficial loiro, de olhos azuis, que atacou meu pai e começou a surrá-lo. – Vocês vão matá-lo – gritou uma das mulheres. Isso fez com que esse oficial ficasse completamente fora de si e, agarrando a mulher pelos cabelos, forçou-a a aproximar-se do meu pai, já estirado no chão. – Aqui não se tortura, isso é uma guerra – gritou o oficial.”
Bens apreendidos confirmaram estada no quartel
Esses relatos de Cecília foram também citados por seu filho, Luiz Paulo, em carta escrita em 2000.
Segundo ele, sua mãe admitiu também: “que vira Rubens Paiva apanhar ao entrar no quartel da Barão de Mesquita, que ouvira seus gritos ao ser torturado na cela ao lado da sua e, finalmente, que o ouvira repetir seu nome seguidas vezes quando já estertorava, lembrando que ele fazia questão de soletrar o sobrenome “Beyrodt” antes do Paiva”.
Dias após as prisões de Paiva (20 de janeiro), de sua mulher e da filha (21 de janeiro), questionado sobre o paradeiro do ex-parlamentar, o então Comando do Iº Exército (hoje Comando Militar do Leste), general de Exército Syseno Sarmento, alegou que “o paciente não se encontra preso por ordem nem à disposição de qualquer OM [organização militar] deste Exército”.
Mas, ao entregarem à família de Paiva o Opel Kadett dele que Eunice identificou no pátio do quartel ao ser libertada em 2 de fevereiro, o Exército acabou fornecendo prova de que o ex-parlamentar esteve naquela unidade militar.
O documento serviu ao advogado Lino Machado nos vários habeas corpus que impetrou à época, sem que nenhum tivesse resposta. Foram arquivados.
O carro não foi o único bem apreendido. Em novembro de 2012, o então governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, em cerimônia pública que contou com a presença de Maria Beatriz Paiva Keller, filha de Paiva, entregou à Comissão Nacional da Verdade (CNV) documentos que estiveram sob o poder do coronel Júlio Miguel Molinas Dias, ex-comandante do DOI-CODI do Iº Exército.
Os documentos foram apreendidos pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, após o assassinato do coronel Molinas, em 1 de novembro de 2012.
Um dos papéis intitulado “Turma de recebimento”, de 21 de janeiro de 1971, atestava a entrada de Rubens Paiva no do DOI-CODI do Iº Exército na véspera e relacionava o que tinha sido apreendido: “cartão de identificação de contribuinte, cartão Diners Club, carteira de habilitação, cinto de couro preto, canetas, relógio (“de metal branco marca Movado”), dinheiro (“260 cruzeiros”), 14 livros de diversos autores e quatro cadernos de anotações”.
Versão de sequestro para explicar desaparecimento
Sem admitir a morte do preso, surgiu a explicação do seu desaparecimento na versão de um sequestro entre a noite de 21 e madrugada de 22 de janeiro daquele ano (1971), no Alto da Boa Vista, local mais afastado, junto à Floresta da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), montaram uma grande farsa, envolvendo vários níveis de comando e uma sequência de atos praticados com o objetivo de ocultar, para sempre, os autores diretos dos crimes e de manter absoluto sigilo a respeito do destino dado ao corpo.
Mesmo sendo inverossímil, a farsa foi endossada, entre outras instituições, pela Câmara dos Deputados e os Ministérios da Justiça, do Exército e Aeronáutica.
As primeiras informações sobre esse pseudo-sequestro apareceram em 22 de janeiro, com a distribuição à imprensa de um comunicado de duas páginas. Noticiaram o sequestro de alguém cuja prisão sequer tinha sido noticiada.
O pesquisador e biógrafo Jason Tércio, ex-produtor da rede BBC em Londres, afirmou em 2013 no trabalho que fez sobre o ex-deputado para a série de Perfis Parlamentares, produzida pela Câmara dos Deputados, que a imprensa brasileira embarcou na farsa dos órgãos de segurança.
“A mentira foi reproduzida num comunicado de duas páginas entregue à imprensa, repetindo quase na íntegra o ofício do capitão Raymundo, com a recomendação de que os repórteres não acrescentassem nenhuma informação. Além disso, eles foram levados à Avenida Edson Passos para observar o local da “fuga”, puderam fazer anotações à vontade e fotografar de diferentes ângulos o fusca carbonizado e com o capô meio levantado.”
Tércio prosseguiu: “Já na noite de 22 de janeiro as emissoras de TV noticiavam a ‘fuga’ e no dia seguinte os principais jornais do Rio estampavam com destaque na primeira página, alguns com letras maiúsculas.
O Globo: “TERROR LIBERTA SUBVERSIVO DE UM CARRO DOS FEDERAIS”
Jornal do Brasil: “Terroristas metralham automóvel da polícia e resgatam subversivo”
O Jornal: “TERROR METRALHA CARRO LIBERTANDO PRISIONEIRO”
O Dia: “BANDIDOS ASSALTAM CARRO E SEQUESTRAM PRESO”
Tribuna da Imprensa: ”TERROR RESGATOU PRESO EM OPERAÇÃO-COMANDO”
Como solicitado, os textos eram quase idênticos nos diferentes jornais, só o estilo de redação variava um pouco.
Mas nem todos divulgaram o nome de Rubens, e alguns publicaram o sobrenome errado, “Rubens Seixas”, como no boletim de ocorrência. Somente a Tribuna da Imprensa, que publicou a notícia no dia 24, deu o nome completo”.
Em 2 de fevereiro de 1971, quando o Ministério do Exército foi intimado a prestar informações no habeas corpus impetrado pelo advogado Lino Machado (HC 30,381) no Superior Tribunal Militar (STM) em nome de Eunice Paiva, o então ministro, o general Silvio Frota, expôs:
“O paciente não se encontra preso por ordem nem à disposição de qualquer OM deste Exército. Esclareço, outrossim, que, segundo informações de que dispõe este Comando, o citado paciente quando era conduzido por Agentes de Segurança, para ser inquirido sobre fatos que denunciam atividades subversivas, teve seu veículo interceptado por elementos desconhecidos, possivelmente terroristas, empreendendo fuga para local ignorado, o que está sendo objeto de apuração por parte deste Exército”.
Reportagem contestou sequestro
A versão do sequestro jamais foi aceita por familiares, amigos e políticos que acompanhavam os fatos.
E foi contestada publicamente, em 1978, pelos jornalistas Fritz Utzeri e Heraldo Dias, do Jornal do Brasil na reportagem “Quem matou Rubens Paiva?”.
Os dois, com a ajuda do ex-capitão-paraquedista Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, dedicaram-se durante meses investigando o desaparecimento de Paiva.
Conhecido como “Sérgio Macaco”, Carvalho perdeu o comando da tropa de elite da FAB, o esquadrão paraquedista de resgate Para-Sar e acabou expulso da Força Aérea ao se recusar, em junho de 1968, a usar a sua tropa em atividades subversivas.
O mesmo brigadeiro Burnier que torturou Leninha obrigando-a a telefonar para Paiva, queria que o capitão Sérgio e seus comandados explodissem bombas no gasômetro do Rio de Janeiro que poderiam causar milhares de vítimas, além de promover ataques a autoridades, de forma a incriminar grupos de esquerda.
“Sérgio Macaco” foi reformado pelo AI-5 em dezembro de 1968, perdendo a patente e o ganho de vida. Só foi anistiado e promovido a brigadeiro depois de morto, em 1994.
Burnier só perdeu o Comando da IIIª Zona Aérea ao passar para a reserva, mantendo seus vencimentos, em dezembro de 1971, após o assassinato do estudante Stuart Angel Jones, na Base Aérea do Galeão. Mais um dos inúmeros assassinatos atribuídos aos seus comandados.
Nas três páginas do Caderno Especial do Jornal do Brasil, de domingo. 22 de outubro de 1978, os jornalistas já admitiam a possível morte no quartel da PE:
O ex-Deputado federal Rubens Beyrodt Paiva, que aparece em listas de pessoas desaparecidas desde 1971, provavelmente morreu no dia 21 de janeiro desse ano, sob guarda do DOI-CODI, sediado no quartel da Polícia do Exército, no Rio, devido a maus tratos que sofreu no dia anterior, no quartel da então III Zona Aérea.
A reportagem relata como tendo sido no Comando Aéreo as pancadas mais fortes que Paiva recebeu. Ele realmente apanhou na Aeronáutica, mas as maiores torturas, como se descobriu depois, ocorreram no quartel do Exército.
Começaram na mesma tarde em que os três chegaram ao 1º BPE, após serem “recepcionados” pelos agentes do Centro de Informações do Exército (CIE), o major Rubens Paim Sampaio e o capitão Freddie Perdigão (Pereira).
Logo após, Paiva, Cecília e Marilene passaram a ser interrogados por agentes do DOI e do CIE, entre eles o “oficial loiro de olhos azuis”, identificado como o tenente Antonio Fernando Hughes de Carvalho.
Na reportagem, Fritz e Heraldo mostraram que até no registro policial sobre o suposto sequestro de Paiva na 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca), os militares do DOI escamotearam a verdade.
Rubens Paiva foi chamado de Rubens Seixas; sobre o oficial do Exército que comandou a escolta do preso, constava apenas o apelido usado no quartel, não o nome.
Os jornalistas narraram:
O primeiro registro do sequestro está no livro da 19ª DP, na Rua Jose Higino, na Tijuca. É a ocorrência 257, anotada no serviço de 21 para 22 de janeiro de 1971, assinada pelo comissário Norival Gomes dos Santos. Nela, a versão de que “o elemento Rubens Seixas”, indiciado em IPM do CODI-1º Exército tinha sido sequestrado por um grupo terrorista. O carro era dirigido por um militar, identificado pela polícia como capitão Aranha, e nele viajavam dois outros militares.
Segundo o registro o carro (Volkswagen 1300, cor verde, motor BF-97562, chassis B7426414, placa GB-214899) dos militares foi interceptado na Av. Edison Passos, quase no Alto da Boa Vista, entre os postes 510/350 e 510/348, por dois outros carros Volkswagen, um azul e outro de cor clara, final de placa 08, nos quais viajavam de seis a oito elementos.
A sindicância fixou um detalhe: na fuga, um dos “elementos” foi ferido a tiros. O major sindicante registra que “com um tiro, ele caiu ao chão” e foi arrastado para dentro de um carro já em movimento. Os carros fugiram em direção à Tijuca, “em alta velocidade, sob uma saraivada de tiros disparados pela equipe”.
Os jornalistas só encontraram a identificação dos três personagens e detalhes do suposto sequestro na Auditoria do Exército:
Em sindicância datada de 11 de fevereiro de 1971, assinada pelo então Major Ney Mendes, o sequestro é recontado de forma semelhante ao registro policial.
O “Rubens Seixas” da delegacia se transforma, então, em Rubens Beyrodt Paiva, e o “Capitão Aranha” é agora identificado como Capitão Raimundo Ronaldo Campos. Os outros dois militares são o 1º sargento Jurandir Ochsendorf e Sousa e o 3º sargento Jacy Ochsendorf e Sousa. O Major sindicante não esclareceu, no documento, mas os dois sargentos são irmãos e paraquedistas. Os quatro militares ainda estão na ativa.
Diz o Major sindicante que ouviu os três e eles informaram que conduziam Rubens para que este indicasse a casa onde poderia estar um “elemento” que trazia do Chile correspondência de banidos. Rubens não identificou a casa. Na volta, descendo do Alto da Boa Vista, foram interceptados por dois carros Volkswagen, um branco e outro verde ou azul-claro.
Atacados a tiros, os três militares abandonaram o carro “rapidamente”, refugiando-se atrás de um muro para responder ao fogo. Rubens, ainda segundo a sindicância, durante a troca de tiros, fugiu pela porta esquerda do carro, atravessou a avenida e abrigou-se atrás de um poste. Ainda durante o tiroteio, Rubens correu para um dos carros, que arrancou em disparada.
A sindicância fixou um detalhe: na fuga, um dos “elementos” foi ferido a tiros. O major sindicante registra que “com um tiro, ele caiu ao chão” e foi arrastado para dentro de um carro já em movimento. Os carros fugiram em direção à Tijuca, “em alta velocidade, sob uma saraivada de tiros disparados pela equipe”.
A história do sequestro persistiu por anos seguidos ainda que jamais tenha merecido credibilidade. Tanto assim que a própria Sindicância do Exército que teoricamente deveria tentar chegar aos sequestradores, não resultou em nada. Nem o possível baleado foi procurado e a sindicância foi arquivada. Jamais foi para valer.
Primeiras informações, quinze anos depois
Com a redemocratização e a decisão do governo de investigar o caso, foi instaurado o Inquérito 91/86 no DOPS da Superintendência da Polícia Federal do Rio. Também abriram um processo na 1ª Auditoria do Exército da 1ª Circunscrição da Justiça Militar (CJM) do Rio. Surgiram então informações desconhecidas.
O médico/psicanalista Amilcar Lobo – identificado por ex-prisioneiras políticas como tendo atuado no DOI-CODI do 1º BPE para dar suporte às torturas físicas -, nos dois procedimentos admitiu ter sido buscado em casa em uma madrugada para atender a um preso.
Na Auditoria Militar identificou a data: 21 de janeiro de 1971. Diante do juiz auditor, Oswaldo Lima Rodrigues Júnior, deixou claro que o preso atendido corria risco de vida:
“Esse preso apresentava inúmeras equimoses, escoriações e o que mais me chamou a atenção na ocasião, o abdômen em tábua, endurecido, o que me levou a fazer um diagnóstico de uma hemorragia abdominal, provavelmente hepática; que esta pessoa disse chamar-se Rubens Paiva; que no momento em que terminava esse atendimento o paciente voltou a repetir seu nome – Rubens Paiva; que o depoente aconselhou o oficial que o acompanhava a internação imediata num hospital do referido preso e chegou a mencionar que suspeitava de uma ruptura hepática; o que não foi atendido, no momento; que no dia seguinte o depoente veio a saber que o mencionado Rubens Paiva havia falecido”.
Em 1986, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) cassou o registro profissional do médico Amilcar Lobo por sua participação nas torturas a presos políticos. A decisão foi ratificada em 1989 pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).
43 anos depois, a confissão: “Não conheci Rubens Paiva”
Com a instalação da Comissão Nacional da Verdade – CNV (maio de 2012) e da Comissão Estadual da Verdade do Rio – CEV-Rio (maio de 2013) novos relatos sobre a morte de Paiva surgiram.
Os relatos das atrocidades culminaram, 43 anos depois, com o desmentido oficial da versão do sequestro. Partiu justamente do oficial do Exército que registrou na 19ª Delegacia de Polícia a ocorrência que teria acontecido na noite de 21 de janeiro e madrugada de 22 de janeiro de 1971.
“Eu jamais conheci Rubens Paiva”, admitiu o já então coronel da reserva Raymundo Ronaldo Campos, em 18 de novembro de 2013, em uma conversa pessoal que tivemos na sua casa, na Barra da Tijuca. Para chegar lá, foram necessários dez meses de contatos telefônicos semanais, até concordar em me receber como assessor da CEV-Rio.
De posse de cópia da reportagem de Fritz e Heraldo com as evidências de que não houve sequestro, alertei-o de que por conta do registro da ocorrência na polícia, seu nome estava vinculado eternamente ao desaparecimento/morte de Paiva. Depois, este repórter apelou para o seu lado emocional:
“Coronel, o senhor já imaginou a reação de um de seus netos caso um amiguinho dele aponte o senhor como assassino do Rubens Paiva’? Afinal de contas, o desaparecimento dele está relacionado a um sequestro (que não houve) relatado pelo senhor”.
A pergunta inesperada o fez pensativo. Poucos minutos depois, tirando um peso da consciência como iria admitir meses depois, desabafou: “Eu jamais conheci Rubens Paiva”. A partir de então, em uma conversa toda gravada, detalhou a montagem da farsa do sequestro.
Após digitalizar em forma de depoimento o que foi narrado, uma semana depois, ele assinou o texto já na presença do presidente da Comissão Estadual da Verdade, Wadih Damous.
Hughes flagrado espancando Paiva
Sete meses antes dessa confissão, em 24 de abril de 2013, o então coordenador da Comissão Nacional da Verdade (CNV), o ex-Procurador Geral da República Claudio Fonteles, ouviu de um militar cuja identidade naquele momento foi mantida em segredo, o relato que comprovou que o tenente Antonio Fernando Hughes de Carvalho foi o principal responsável pelos espancamentos no ex-deputado, dentro das instalações do DOI-CODI.
O segredo na identificação do militar foi derrubado pelo Ministério Público Federal, após depoimento da testemunha. Tratava-se do na época comandante do Pelotão de Investigações Criminais do 1º BPE, tenente Armando Avólio Filho.
No depoimento por escrito, narrou: “Nesse mesmo dia (seguinte à chegada [de Rubens Paiva ao DOI]) e quase ao término do expediente por volta das 17hs., ao me despedir dos soldados e sargentos do pelotão, reparei que a porta de uma das salas de oitiva do DOI estava entreaberta. (…) Ao dirigir-me para fechá-la, deparei com um interrogador do DOI, de nome HUGHES (…), no seu interior, utilizando-se de empurrões, gritos e ameaças contra um homem que aparentava já ter uma certa idade. Reparei, na fisionomia desta pessoa, um ar de profundo esgotamento físico”
O fato foi levado ao conhecimento do chefe da 2ª Seção do Batalhão de PE, capitão Ronald José Motta Baptista de Leão. Ambos foram à sala do comandante do DOI-CODI, major José Antônio Nogueira Belham, e “comunicaram-lhe pessoalmente que Hughes estava matando a vítima”.
A mesma comunicação foi feita ao comandante do 1º BPE, coronel Ney Fernandes Antunes. Mas nada foi feito.
“Fui o último civil a ver Paiva agonizando”
A esse relato soma-se outro, levantado pela CEV-Rio que localizou o médico Edson Medeiros, provavelmente o último civil a ver Rubens Paiva vivo.
Ele foi preso em Canoas (RS), na véspera do Natal de 1970, e levado ao Rio pelo então coronel Paulo Malhães, um dos agentes do CIE que mais se destacou na repressão, especialmente na tortura.
Medeiros, que não tinha militância política, foi liberado na tarde de 21 de janeiro de 1971, motivo pelo qual fixou a data do que presenciou.
Em março de 2015 ele concordou em falar à CEV-Rio. Fomos à casa dele, em Copacabana, eu e o membro da Comissão, Álvaro Caldas. Um relato que demorou 1h30 minutos no qual ele nos garantiu:
“Declaro ter a mais inabalável e firme convicção de ter sido a última pessoa, sem contar os seus algozes, a ver na dependência do DOI-CODI a figura agonizante do então deputado Rubens Beyrodt Paiva e horas depois, o que deve ter sido sem sombra de dúvida, a passagem do corpo, coberto, inerte e decesso do ex-deputado. Claro, sou médico, mas não posso cometer a leviandade de afirmar com absoluta certeza de que ele estava morto, mas estava inerte e arrastado pelo corredor”.
A morte ocorreu em 21 de fevereiro conforme a confissão que nos foi dada, em novembro de 2013, pelo então coronel da reserva Raymundo Ronaldo Campos, que em 1971 usava o apelido de “capitão Aranha”. No depoimento à CEV-Rio explicou como seu nome foi envolvido na repressão política:
”…que embora nunca tenha feito nenhuma prisão e nem participado de interrogatório, acredita que seu nome veio a público e ficou conhecido por conta do chamado Caso Rubens Paiva, pois acham que tenha interrogado o ex-deputado Rubens Paiva; que jamais conheceu Rubens Paiva, embora a versão que tenha sido dada é que ele tenha o transportado como preso ao Alto da Boa Vista momento em que teria ocorrido um sequestro, creditado a militantes políticos de organizações de esquerda; que, na verdade, jamais viu Rubens Paiva;”
“Morreu, morreu, morreu no interrogatório”
Ao dar detalhes das ordens que recebeu na noite de 21 de janeiro do chefe do setor de operações que estava de plantão, o Major Francisco Demiurgo Santos Cardoso, o coronel Raimundo acabou confirmando indiretamente a morte de Paiva sob tortura:
“…que no dia em que estes fatos ocorreram, na noite de 21 para 22 de janeiro de 1971, em dado momento, sem lembrar da hora exata, o chefe do setor de operações que estava de plantão, no caso, o Major Francisco Demiurgo Santos Cardoso o chamou e disse ‘olha, você vai pegar o carro, levar em um ponto bastante distante daqui, vai tocar fogo no carro para dizer que o carro foi interceptado por terroristas e vem para cá’; que chegou a questionar seu superior perguntando ‘ué, por quê?’ tendo ouvido como resposta que era para ‘justificar o desaparecimento de um prisioneiro’; que nesta hora o major Demiurgo não lhe deu o nome do prisioneiro e só depois, quando voltou ao quartel e preencheu o Mapa de Missão, é que foi informado de que se tratava de Rubens Paiva, motivo pelo qual no Mapa de Missão aparece o nome do preso político; que a justificativa para o desaparecimento do preso, segundo ouviu do major Demiurgo, foi que a pessoa que deveria estar no carro morreu no interrogatório; que não lhe foi dito em que condições esta pessoa morreu no interrogatório; que o major apenas informou, ‘morreu, morreu, morreu no interrogatório’; que assim como não foi informado de detalhes da morte do preso, nada soube a respeito do destino do corpo do mesmo.”
“Torturador, tornou-se um achacador”
Durante as apurações jornalísticas em 1978, os repórteres Fritz e Heraldo receberam informações de que os restos mortais de Paiva foram enterrados no Alto da Boa Vista, nas proximidades do Setor de Diligências Reservadas da Polícia Civil do Estado da Guanabara, que funcionava no prédio onde hoje está um quartel do Corpo de Bombeiros.
O Setor de Diligências abrigava policiais ligados ao Esquadrão da Morte – como o detetive Fernando Gargaglione -, que prestaram serviços aos órgãos de repressão política, notadamente ao DOI-CODI, ao Centro de Inteligência do Exército (CIE) e ao Centro de Informações da Marinha (CENIMAR).
Fritz e Heraldo, para desespero do administrador do Jornal do Brasil, apresentaram ao mesmo pedido de reembolso através da entrega de nota fiscal da compra de uma pá e uma enxada. Entendendo serem objetos estranhos ao jornalismo, o administrador relutou em pagar e acabou surpreso com a ordem do então diretor da redação do JB, Walter Fontoura: “pague sem discutir”. Os dois chegaram a fazer algumas escavações naquele bairro, sem nenhum sucesso.
Através de Sérgio Macaco, souberam depois que o corpo poderia estar no Recreio dos Bandeirantes. O então capitão reformado da Aeronáutica conseguiu uma escavadeira e remexeu parte da areia em busca de algum vestígio, novamente sem sucesso.
Mesmo após a reportagem publicada em 1978, os jornalistas continuaram buscando informações do caso. Chegaram, em 1979, ao capitão Ronald José Motta Batista Leão, que em 1971 era chefe da 2ª Seção (o serviço de informações) do 1º BPE e teria sido alertado pelo “Agente Y”, na tarde de 21 de janeiro para o interrogatório com “método não tradicional”.
No Relatório da CEV-Rio consta que o capitão pediu aos dois “uma quantia significativa para apresentar provas que Rubens Paiva havia sido morto no DOI-CODI”. O Relatório concluiu: “de torturador, tornou-se um achacador”.
O episódio grotesco fez com que o ministro do Exército à época, general Walter Pires, ligasse para Fontoura, o diretor da redação do JB, recomendando que não pagassem ao capitão Leão por ele não ter nenhuma informação.
Fontoura, tal como me revelou quando o procurei na condição de assessor da CEV-Rio, chegou a cobrar do general Pires as informações sobre o corpo que ele alegava que o capitão não teria. Não obteve resposta.
Dois enterros e ‘desenterros’
Em 1986 a versão do enterro de Paiva nas proximidades da praia da Barra da Tijuca levou o secretário estadual de Polícia Civil do Rio, Nilo Batista, do governo de Leonel Brizola, a promover uma escavação em terrenos da região. Localizaram uma ossada.
Levada ao Instituto Médico Legal verificou-se ser esqueleto de um equino.
O mistério em torno do destino dos restos mortais de Paiva, enterrado e desenterrado duas vezes, acabou esclarecido em março de 2014 quando, ainda pela CEV-Rio, juntamente com a advogada Nadine Borges, que chegou a coordenar a Comissão por alguns meses, conseguimos o depoimento do coronel reformado do Exército Paulo Malhães, ex-participante do CIE, torturador e assassino confesso.
Na casa em que ele residia na zona rural do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, gravamos mais de 10 horas de depoimentos em duas tardes.
Suas declarações foram transcritas em 249 páginas com as mais diversas informações sobre fatos relacionados à repressão política. No Relatório da CEV-Rio, a respeito de Paiva, consta:
“Em 11 de março de 2014, o coronel reformado do exército Paulo Malhães, torturador e assassino confesso, admitiu ter ajudado a ocultar os restos mortais do parlamentar. Segundo seu relato, num primeiro momento o corpo foi enterrado no Alto da Boa Vista, iniciativa dos militares do DOI-CODI, com a participação do policial civil Fernando Próspero Gargaglione de Pinho, lotado no chamado Setor de Diligências Reservadas da polícia Civil do Estado da Guanabara, que funcionava em um prédio situado no Alto da Boa Vista. Devido à sua integração com os militares do DOI-CODI e do CIE e do Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), a delegacia serviu à repressão política.
Pouco tempo depois, militares do DOI-CODI perceberam que uma obra de calçamento da estrada poderia levar à descoberta do cadáver e providenciaram seu traslado para um terreno na Barra da Tijuca. Malhães admitiu ter participado de um segundo desenterro, no terreno da Barra. O corpo, em estado de putrefação, foi transportado por sua equipe em um saco impermeável e jogado em um rio, provavelmente o Piabanha, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. O Piabanha deságua no Rio Paraíba que corre em direção ao oceano Atlântico”.
Crimes contra humanidade, crimes permanentes
Pouco tempo depois do depoimento prestado à CEV-Rio, o coronel Raymundo foi ouvido pelos procuradores da República Sérgio Gardenghi Suiama e Antonio do Passo Cabral, que participam do Grupo de Trabalho Justiça de Transição, encarregado de buscar a punição dos agentes estatais que violaram os Direitos Humanos.
Os dois, com as procuradoras da República do Rio Tatiana Pollo Flores e Ana Cláudia de Sales Alencar, o colega de São Paulo Andrey Borges de Mendonça e o Procurador Regional da República Marlon Alberto Weichert apresentaram, em maio de 2014, na 4ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro denúncia criminal contra os militares pela morte e desaparecimento de Paiva.
Eles relacionaram nove militares envolvidos no homicídio doloso, triplamente qualificado: por motivo torpe; com emprego de tortura; e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Também foram inclusos no crime de formação de quadrilha para a prática dos crimes de lesa-humanidade tipificados como sequestros, homicídios e ocultações de cadáver.
A denúncia incidiu apenas sobre os cinco militares que estavam vivos: o já então general reformado José Antonio Nogueira Belham; os coronéis reformados Rubens Paim Sampaio e Raymundo Ronaldo Campos; e os capitães Jurandyr Ochsendorf e Souza e Jacy Ochsendorf e Souza.
O coronel Raymundo e os irmãos Ochsendorf também foram acusados por fraude processual, por conta da simulação do sequestro no Alto da Boavista que não ocorreu.
Por já terem falecido, ficaram de fora da denúncia pelo homicídio o brigadeiro João Paulo Moreira Burnier; o coronel Ney Fernandes Antunes; o capitão Freddie Perdigão Pereira; e o tenente Antônio Fernando Hughes de Carvalho.
Também por estarem mortos, deixaram de ser acusados pela formação de quadrilha o general de Exército Syseno Sarmento (o ex-comandante do Iº Exército), o tenente coronel José Luiz Coelho Netto, que comandava o Centro de Inteligência do Exército; os majores Ney Mendes (chefe da Secção de Operações do DOI-COD) e Francisco Demiurgo Santos Cardoso (Chefe da Seção de Informações do DOI-CODI), além do tenente coronel Paulo Malhães, agente do CIE.
Em maio de 2014, a denúncia foi acatada pelo juiz federal Caio Márcio Gutterres Taranto, da 4ª Vara Federal. Ele ressaltou que “a qualidade de crimes contra a humanidade do objeto da ação penal obsta a incidência da prescrição”.
E acrescentou: “o homicídio qualificado pela prática de tortura, a ocultação do cadáver (após tortura), a fraude processual para a impunidade (da prática de tortura) e a formação de quadrilha armada (que incluía tortura em suas práticas) foram cometidos por agentes do Estado como forma de perseguição política”.
O advogado Rodrigo Roca, defensor dos militares, questionou o fato de o MPF buscar no direito internacional justificativa para a denúncia.
Recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região pedindo trancamento da ação por ausência de competência constitucional da Justiça Federal para formação de tribunal do júri; a natureza militar dos crimes, que atrairia a competência da Justiça Militar; e a aplicabilidade da Lei da Anistia, de 1979.
No Supremo Tribunal, porém, Rocca teve um resultado melhor. Em setembro de 2014, o ministro Teori Zavascki reconheceu que “não há como negar que a decisão reclamada (a denúncia recebida) é incompatível com o que decidiu esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 153, em que foi afirmada a constitucionalidade da Lei 6.683/79 (Lei de Anistia)”. A ação foi suspensa.
Mas a defesa também recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Recurso em habeas corpus nº 57.799 (2015/0068683-1). Nele, inicialmente (abril de 2015) o ministro relator, Gurgel de Farias, negou a liminar. Mas em dezembro de 2019 a Quinta Turma concedeu a ordem por unanimidade e trancou a Ação Penal, respaldada no voto do relator Joel Ilan Paciornik.
O debate em torno do crime permanente de ocultação de cadáver voltou a ser provocado recentemente junto ao Supremo Tribunal Federal, em outra ação impetrada pela defesa de militares acusados de tortura.
O ministro Flavio Dino na sua argumentação citou o filme “Ainda estou aqui” , cuja atriz Fernanda Torres, acaba de receber o premio Globo de Ouro, por sua interpretação como a viúva Eunice Paiva:
“No momento presente, o filme “Ainda Estou Aqui” – derivado do livro de Marcelo Rubens Paiva e estrelado por Fernanda Torres (Eunice) – tem comovido milhões de brasileiros e estrangeiros. A história do desaparecimento de Rubens Paiva, cujo corpo jamais foi encontrado e sepultado, sublinha a dor imprescritível de milhares de pais, mães, irmãos, filhos, sobrinhos, netos, que nunca tiveram atendidos seus direitos quanto aos familiares desaparecidos. Nunca puderam velá-los e sepultá-los, apesar de buscas obstinadas como a de Zuzu Angel à procura do seu filho“, diz o voto do ministro. O assunto, portanto, voltará ao debate na Suprema Corte após o recesso judicial.
Só dois permanecem aqui
Nesse período de tempo, desde que a Reclamação foi impetrada no STF, faleceram três dos cinco denunciados: Rubens Paim Sampaio, em 2017, Jurandyr Ochsendorf e Souza, em 2019, e Raymundo Ronaldo Campos, em 2020.
Restam vivos José Antonio Nogueira Belham que, mesmo denunciado em 2014, no governo Bolsonaro foi promovido à patente de marechal. Também sobrevive o hoje já major Jaci Ochsendorf e Souza.
Este relato traduz a angústia, mais do que uma família brasileira, de milhares de pessoas anônimas e de diversas camadas sociais que sofreram com os tempos de arbítrio e horror em nome do “combate à subversão”.
No livro Memórias do esquecimento (2012), o jornalista Flávio Tavares – um dos 15 presos políticos libertados em troca do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969, antes portanto do assassinato de Rubens Paiva – descreve esse sentimento de horror pelo regime que sustentava na tortura.
“O batalhão triunfante nasceu com o medo e pelo medo. Ao implantar o terror, com ele aterrorizou-se também. A sala de tortura decidiu o triunfo e a derrota numa guerra que praticamente não chegou à guerra. Despojada de beligerância e inchada de violência e horror, selou nossa destruição, mas desfez também todos os valores e princípios de convivência. Assim a tortura destruiu os torturados e aniquilou também os torturadores ao transformá-los de combatentes militares em verdugos, tornando-lhes o mundo incompreensível”.
*Meus agradecimentos públicos aos colegas Lara Sfair e João Baptista Abreu pela grande ajuda na revisão do texto acima e das sugestões de acréscimos e modificações.
* Artigo publicado originalmente no blog de Marcelo Auler.