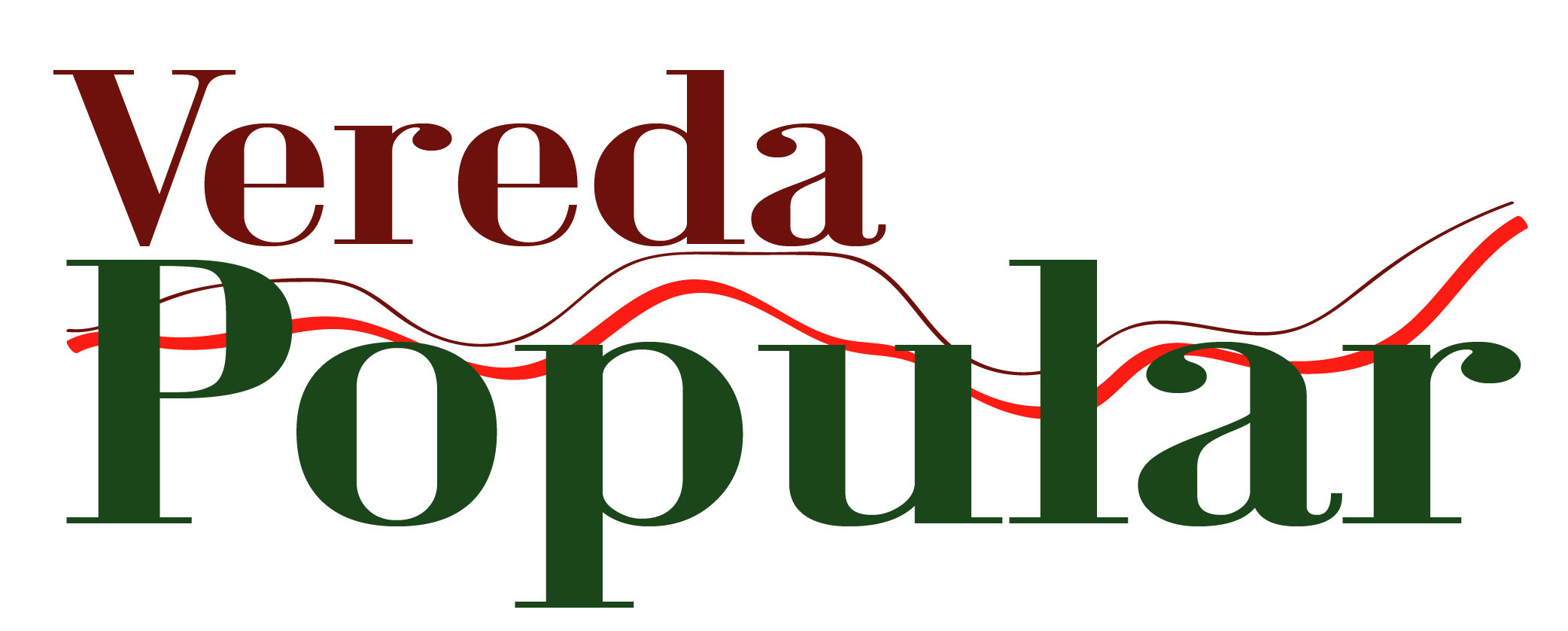Vereda Popular inicia na seção “Economia” a edição regular, todas as 2as e 4as quartas-feiras de cada mês, de Anatomia de um credo (o capital financeiro e o progressismo da produção), livro recente de Ronald Rocha, Editora O Lutador, Belo Horizonte. Hoje estão publicados o Sumário, a Apresentação, o Prefácio e o Capítulo I. Adaptada ao instrumento agora utilizado, a diagramação difere da original impressa. As próprias notas, antes situadas ao pé das paginas, aqui aparecem ao fim dos textos.
Sumário
Anatomia de um credo (o capital financeiro e o progressismo da produção)
Capítulo I: O antigo capital bancário
Capítulo II: O capital financeiro do século XXI
Capítulo III: A oligarquia financeira no Brasil
Capítulo IV: A produção vai à especulação
Capítulo V: Capital, Estado e Nação
Capítulo VI: Relações capitalistas de Estado, privatização e concessão
Capítulo VII: Experiência mundial e particularidade nacional
Capítulo VIII: Ideação e miséria política
Bibliografia e outras referências referidas
Índice onomástico
Apresentação
Os momentos de crise impactam, sempre, as lutas políticas no mundo e nos diferentes quadros nacionais. Quanto ao Brasil de 2016, a recessão e suas derivações econômico-sociais – em vez de mazelas morais inerentes aos políticos, de simples erros na gestão pública governamental, de volições absolutas ou de sistemáticas sabotagens, que surgem mais como consequências e agem como ações de retorno – foram e continuarão sendo sintetizados a partir de múltiplas e basilares determinações, sejam os influxos produzidos pela maior fase depressiva das ondas longas ocorridas no capitalismo, em nível internacional, até hoje, sejam seus desdobramentos em ciclos adversos da esfera local.
Obviamente, as classes sociais e suas diversas frações, mais ou menos influentes – diretamente ou por meio de instituições como entidades civis, partidos e órgãos estatais – apresentam seus interesses, valores, posturas, comportamentos e pleitos diante das situações objetivas e candentes com as quais se deparam e que as atingem. Entre os problemas dos “de baixo” estão políticas impostas pelo capital a ferro e fogo ou aplicadas com relativa autonomia pelos diversos governos. As disputas que acabaram concentrando-se em torno do processo golpista em geral – com metas nem sempre explícitas ou confessáveis – e da proposta de impeachment em particular, o demonstraram de modo evidente.
As conjunturas ou períodos conturbados são propícios a uma avaliação criteriosa, devidamente fundamentada nos processos inerentes à forma de ser realmente existente. Sob o ângulo dos movimentos, organizações e indivíduos revolucionários, são tempos que exigem análises que se debrucem sobre a realidade e a mundanidade viva, utilizando todo o aparato conceitual já construído e adaptado às condições concretas do capitalismo contemporâneo. Salta aos olhos o imperativo de uma abordagem que se proponha a ultrapassar os fenômenos, de maneira a extrair, organizar e elucidar os seus elos essenciais, em vez de limitar-se a captar algumas de suas manchas empíricas.
Em termos marxistas, trata-se, precisamente, de “procurar a lógica específica do objeto específico”. No caso em foco, o tema é a crise e a luta de classes no Brasil, em suas derivações amplas e dramáticas, seja em torno do Planalto, seja no rol dos acontecimentos massivos em escala nacional, seja na existência cotidiana de cada protagonista individual ou coletivo. Sem essa necessária, complexa e trabalhosa operação intelectual permaneceria inalcançável a esfera da famosa, já testada e tão negligenciada análise concreta da situação concreta, que é a condição fulcral e irrecorrível de qualquer intervenção político-social em curto prazo consequente e no horizonte mediato emancipadora.
Esta obra de Ronald Rocha, que o leitor ora recebe em mãos, fruto de um esforço voltado à sistematização de informações empíricas e à reflexão teórico-ideológica, articulando-as, é uma contribuição indispensável à apropriação intelectual sobre a luta de classes que vem acontecendo no território brasileiro. Com recorte temporal que destaca as últimas seis décadas e, notadamente, a atualidade, o cerne de seu conteúdo é o combate à vulgata, amplamente disseminada e adotada, de que capital financeiro seria similar a capital bancário, especulativo, rentista, vagabundo ou a outras postulações assemelhadas. Neste sentido, demonstra que tal reducionismo está eivado de certo “fetichismo”: dinheiro que produz dinheiro por si mesmo.
O livro em apresentação se insurge contra tal fórmula, desnudando-a como ideação autista, avessa à substância presente no processo de criação e acumulação do valor. Assim retoma as tão esquecidas elaborações clássicas, como as efetivadas por Lênin em Imperialismo, estágio superior do capitalismo (Ensaio de divulgação), alicerçadas cientificamente no processo de produção – e não na circulação – como instância primeva na constituição e reprodução da vida humano-social. Estriba-se, pois, em um nexo chave ao explicitar que o capital financeiro hodierno é resultado da fusão, em patamar superior, dos antigos capitais autônomos, como industrial, bancário, comercial, agrário e assim por diante.
Eis como emergem, nas páginas que se seguem, as figuras categoriais de monopólio e de oligarquia financeira. O autor se apropria dessa arquitetura conceitual, recuperando-a, reafirmando-a e desenvolvendo-a conforme as particularidades surgidas na evolução da sociabilidade burguesa hoje, mormente na situação dependente de nosso país. Neste quesito, destaca a abordagem sobre a gênese do capital financeiro na formação econômico-social burguesa no Brasil e a sua articulação com os conglomerados internacionais, configurados a partir da expansão posterior à Segunda Guerra Mundial, mais precisamente nos anos 1950.
Fica devidamente realçado que, em sua evolução nos últimos 60 anos, o capital interior amadureceu e alcançou a forma de grupos monopolista-financeiros, com seus peculiares contornos jurídicos, mas mantendo a centenária primazia imperialista. A partir dessa fase histórica, a economia brasileira foi hegemonizada, segundo o autor, por um tripé: conglomerados nativos, estrangeiros e estatais, com suas múltiplas articulações. Ressalve-se o impacto das alterações nesse quadro sucedidas nos anos 1990, pois o processo de privatização reduziu, sensivelmente, o segmento público e misto, bem como ampliou a presença das frações privadas.
Entre as elaborações que mostram sintonia fina e contribuições à análise dos processos reais, merece destaque a percepção sobre as três vertentes de fusão nos ramos burgueses para a constituição e consolidação do capital financeiro. Historicamente, a primeira forma se deu a partir da circulação, em que os bancos penetraram nas indústrias. Na segunda, as grandes sociedades fabris passaram a criar suas próprias instituições financeiras. Na terceira, mais recente, a concentração se dá pela ação de grupos econômicos de intermediação para, operando na especialização de funções, complementarem as atividades principais das grandes empresas.
O enfoque – inclusive o método e a pesquisa, ancorados em informações estatísticas confiáveis e recentes – demonstra que a vulgata de capital financeiro, além de destoar perante a dinâmica em curso no capitalismo contemporâneo, recria, opera e divulga uma falsa contradição fundamental entre a denominada “produção” e o “rentismo”, de vez que esses são tidos como campos estanques e antagônicos. Sem dúvida, tal ilusão, que se refere a questões supostamente decisivas e norteadoras para a esquerda, destinadas a determinar e articular suas ações, vem trazendo sérias e comprometedoras consequências políticas para as lutas proletárias e populares.
A leitura e a reflexão propiciadas por Anatomia de um credo (o capital financeiro e o progressismo da produção), percorrendo e considerando o assunto central de seus vários capítulos, bem como participando e posicionando-se diante das polêmicas ali presentes, oferecerão ao leitor atento, especialmente àquele preocupado com os grandes dilemas econômicos, sociais e políticos instalados na sociedade brasileira, elementos chaves para uma avaliação criteriosa, refinada e, sobretudo, repleta de delineamentos importantes para se superarem os desafios do presente e se vislumbrarem os passos a serem dados rumo ao futuro.
Carlos Machado*
* Sociólogo e diretor do Sindicato dos Professores de Minas Gerais – SimproMinas.
Prefácio
Este livro germinou em ambiente inquieto e militante: foi preciso redigir, para servir de referência a um debate que haveria no Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda – Isem –, em novembro de 2013, uma apresentação crítica à noção trivial de capital financeiro. Constatou-se, então, que o conceito corrente na mídia, na academia, em setores do movimento sindical e até em organizações ou partidos de esquerda se mostra defasado perante alguns traços essenciais da realidade brasileira contemporânea, que começaram a conformar-se há mais de um século em escala mundial.
Durante as discussões, surgiu a ideia de desdobrar a minuta inicial em duas outras, desta feita opinando, também, sobre o conteúdo das concessões realizadas pelos últimos governos brasileiros e as singularidades que as diferenciam – como atos administrativos próprios – das privatizações diretas e integrais, ocorridas especialmente nos anos 1990 e agora novamente encaminhadas por governos sob a direção ou influência ultraliberal. Ressalve-se que tais preocupações, caso carecessem de alguma repercussão político-prática, nada mais ensejariam do que uma tertúlia intelectual diletante, afastando-se do propósito original.
Ocorre que a estagnação e o engessamento atemporais do termo “financeiro” – mantendo-o amarrado aos terrenos exclusivos do rentismo, da usura e da especulação monetária em geral – vêm favorecendo a já conhecida menção apologética à burguesia dita “produtora”, como se tal fração da classe dominante pudesse constituir um bloco seguro e homogêneo de sustentação e apoio ao combate contra o endividamento público, a agiotagem legalizada, os grandes bancos e demais instituições envolvidas na ciranda virtual.
Tal postulação de aliança, eivada de valores morais e imersa em considerações doutrinárias altamente discutíveis, fundamenta e expressa uma proposta de colaboração histórica do trabalho com o capital. Assim, tenta atualizar e justificar antigas experiências de conciliação entre segmentos sociais antagônicos, agora sob a forma de pacto entre as forças populares e os “capitães de indústria”. Para tanto, apresenta um programa rebaixado e abre mão de muitos direitos fundamentais, a pretexto de formar um campo estratégico progressista e “antineoliberal”, que seria estrategicamente adequado à luta dos “de baixo” na etapa atual do capitalismo.
Semelhante postulação subscreve os interesses dos conglomerados privados – entre os quais concessionários empresariais especializados em obras e serviços públicos – sob a justificativa de se garantirem e se promoverem a eficiência administrativa, o crescimento da economia, o desenvolvimento do País, a multiplicação das riquezas, a soberania nacional e a melhoria dos indicadores sociais, entre outros resultados benéficos. Para os mais afoitos, tratar-se-ia até mesmo de fomentar uma evolução gradual rumo ao socialismo.
Os primeiros apontamentos que surgiram precisaram submeter-se a cortes drásticos, pois ficaram demasiadamente longos para serem usados nas comunicações pretendidas, ao menos na integralidade. Restaram, então, extensos trechos sem qualquer aproveitamento. De pronto, pensei em reuni-los, reorganizá-los e reutilizá-los em forma de ensaio, visando a colocá-los à disposição de todos os interessados; porém, por causa de suas insuficiências, acabaram “engavetados” em arquivo eletrônico e ali permaneceram durante quase dois meses.
No fim do ano, com algumas hesitações, resolvi levá-los em pen drive para as férias. Os dias inaugurais de 2014 se converteram em palco da disputa informal entre as férias e o trabalho, afinal resolvida por meio de uma razoável mediação. Quando retornei a Belo Horizonte, em meados de janeiro, o material já havia sofrido uma profunda revisão, encontrando-se alargado e bem adiantado. Convenci-me, então, de que valia a pena avançar mais e transformá-lo em livro.
O passo seguinte foi retrabalhá-lo, ilustrando-o com dados estatísticos, alguns já consultados e outros recolhidos posteriormente. Depois, quando possível, sobretudo nos feriados, sábados e domingos, prepararam-se as citações bibliográficas, as notas ao pé da página, a bibliografia e o índice onomástico. Em abril as antigas anotações adquiriram um corpo minimamente necessário à edição. Com novos adendos, a pequena obra poderia ser consumada rapidamente, desde que fosse alvo de um esforço concentrado.
Todavia, acabou retornando ao baú-computador, preterido que foi por prioridades profissionais e políticas imprevistas, que ocuparam as horas até então vagas. Nesse ínterim, outras informações, relativas a 2013, 2014 e 2015, apareceram em publicações especializadas, exigindo novos ajustes e menções que, afinal, confirmariam a atualidade das conclusões básicas. Passaram-se mais dois anos. Questões de trabalho e de saúde adiaram ainda mais a sua conclusão. Só agora, após um prazo além do anteriormente imaginado, o texto pôde receber a derradeira revisão.
Esclareça-se que o título surgiu logo no começo da redação, mas trouxe uma dúvida: as palavras progressismo e produção deveriam estar entre aspas, prevenindo-se a indução e o endosso de equívocos? Abri mão da filigrana, por três motivos: o senso comum lhes conferiria de plano um valor positivo, tornando ininteligível qualquer antecipação intempestiva de sentido mediante sinais gráficos; os reais conteúdos das noções ficariam evidentes ao longo da leitura; a mensagem limpa e despoluída, no primeiro momento, mesmo que imprecisa, seria mais direta e eficaz.
Nesta oportunidade, faço a questão de registrar meus agradecimentos. O primeiro, de caráter coletivo, aos participantes da reunião em que se discutiu o tema, inicialmente, e que me ajudou a organizar o conteúdo depois consolidado. O segundo, na esfera individual, aos camaradas e amigos que se deram o trabalho paciente de ler os rascunhos e encaminhar-me sugestões, contribuindo assim para a correção de inadequações, o esclarecimento de passagens ainda obscuras e a melhoria da redação final.
Como é de praxe, não poderia deixar de registrar que a responsabilidade intelectual pelas formulações contidas no volume ora editado – Anatomia de um credo (O capital financeiro e o progressismo da produção) –, inclusive a reelaboração dos significados esboçados em conversas anteriores, as escolhas nas alusões a textos alheios e, em especial, as opiniões eventualmente equivocadas ou espécies outras de impropriedade, é tão somente minha.
Belo Horizonte, Carnaval de 2017,
Ronald Rocha
“Cada qual com seus trabalhos,
Com seus sonhos, cada qual.
Com a esperança adiante,
Com as recordações detrás.”1
Atahualpa Yupanqui
“Viver é mudar,
Em qualquer foto velha o verás”.2
Homero Aldo Expósito
Capítulo I
O antigo capital bancário
Ressalvando-se algumas raras e honrosas exceções, virou hábito – na academia e nas instituições privadas ou públicas de hegemonia, bem como nas elaborações de pessoas, de agrupamentos e mesmo de partidos políticos que se apresentam como socialistas ou de esquerda – aplicar-se a noção de capital financeiro somente às formas bancárias, rentistas, especulativas e “fictícias” da circulação monetária, ocorrentes no mercado formal. Trata-se de um dogma, que se transformou em arraigada crença e que se repete, ano após ano, como se fosse um mantra modal.
As existências, funções e operações do capital assim nomeado estariam ainda hoje restritas à cobrança de juros, à remuneração patrimonial, ao mercado de papéis – ou de sinais eletrônicos – e à transcendência das moedas para além de seus antigos lastros materiais. Em termos simplórios, a lógica financeira consistiria em fazer dinheiro unicamente com base no próprio dinheiro, por si, como se não existisse a esfera da produção, vale dizer, em um passe de mágica. Algo semelhante a uma enteléquia platônica ou a uma categoria formal-apriorística de inspiração kantiana.
A julgar por tal enfoque e pelo conteúdo que lhe é subjacente, o Brasil e o mundo permaneceriam vivendo no passado. Mais precisamente, estariam aprisionados em uma época anterior ao século XX, ou mesmo ao XIX, quando o capital da sociedade civil burguesa, recém-organizada sobre os escombros de formas pré-capitalistas, ainda se encontrava imaturo, fragmentado e autônomo, em seus vários modos de existência originários e particulares.
Ora, já o lucro financeiro antigo consistia, rigorosamente, em uma alíquota do valor criado pelo trabalho humano e depois assenhoreada pelo grupo social ou fração de classe usurária, que investia nas operações do tipo D-D’, isto é, na circulação monetário-creditícia. Logo, pressupunha desde o nascedouro a existência de algum tipo de produção e de troca, por mais elementar, precário e raro que fosse.
Quando, em outra época histórica, o lucro financeiro passou a transcorrer nas formações econômico-sociais burguesas, em advento ou consolidadas, a origem da cota-parte ΔD se concentrou, direta ou indiretamente, na mais-valia extraída dentro da produção caracteristicamente capitalista, depois redistribuída entre os demais agentes econômicos, envolvidos na circulação de mercadorias e de moedas:
“Trata-se, realmente, apenas de uma forma derivada de mais-valia porque os juros (e naturalmente o reembolso) do capital dinheiro emprestado apenas podem ser recebidos se a instância tomadora do crédito, geralmente um capital industrial ou comercial, aplicar esse dinheiro na produção capitalista material de mercadorias e essa realizar-se no mercado. Tal significa apenas que o capital produtivo tem que dividir com o capital de crédito ou capital que rende juros os ‘despojos’, ou seja, a mais-valia. A mais-valia divide-se em lucro do empresário e juros, pelo que o juro não é afinal nada mais que uma parte retirada ao lucro do empresário.”3
No entanto, essa evidência é ignorada pelo senso comum. A ideação espontânea que torna absoluto o caráter rentista do dinheiro, que elimina a produção como instância teleológica primeva da valorização objetiva e que, por fim, separa metafisicamente o capital, em sua gênese, da remuneração auferida pelos detentores de ativos exclusivamente monetários, é quase tão velha como a existência de bens econômicos excedentes após o consumo, do comércio entre populações distintas e da moeda como equivalente geral de troca.
Antes do capitalismo, a intuição acerca dos fenômenos rentistas despontava e se nutria com base no apartamento sociocultural da usura, que, no senso comum, se subjetivava em forma de atividade externa à economia – então percebida e tida como instância natural do mundo, como coisa precedente aos seres humanos –, isto é, como atividade simplesmente posta, em sua completude, perante a experiência e a consciência.
Já no início da sociedade burguesa, até a segunda metade do século XIX, a mesma sensação interiorizada conseguia sobreviver e reproduzir-se nas psicologias e nas culturas humanas, a expensas da exterioridade livre-concorrencial de então, em que as diferentes espécies independentes de capital privado ainda conformavam movimentos particulares, autobastantes e regidos por lógicas próprias.
Naquele período, a clausura reservada aos processos objetivos e às ideações singulares sugeria também, por extensão, que os indivíduos, igualmente, fossem vistos como seres isolados, isentos de relações econômico-sociais ou portadores de laços tão somente contratuais. Semelhante convicção naturalista, conforme a referência irônica de Marx:
“[…] não é senão a aparência, e aparência puramente estética, das grandes e pequenas robinsonadas”.4
Essa ilusão não deixava de conter certa veracidade implícita, que só pode ser compreendida se for considerada nos parâmetros de seu tempo. Por exemplo, na trama de As Aventuras de Robinson Crusoe5 estava contida – além da saga vivida pelo ser humano desamparado e solitário, ficticiamente, no mundo natural – uma afirmação metafórica do realismo prático e do individualismo radical, traços típicos do romance moderno prestes a afirmar-se na Europa:
“O caçador e o pescador sós e isolados, como aqueles considerados, inicialmente, por Smith e Ricardo, pertencem às imaginações desprovidas de fantasia, que produziram as robinsonadas setecentistas […]. Na realidade, trata-se antes de uma antecipação da ‘sociedade civil’ que se preparava desde o século XVI e que no século XVIII marchava a passos de gigante para sua maturidade.”6
Se comparada à realidade que surgia na passagem ao século XX e que hoje se completou nos seus aspectos fundamentais, a defasagem gnosiológica provocada pelas impressões metafísicas – já postas em questão pela dialética hegeliana nos oitocentos e por sua percepção acerca da “propriedade como existência da personalidade”7 – ficara patente quando as formulações continuaram a considerar, em primeiro lugar, os casos já então residuais ou secundários, remanescentes, de processos econômico-sociais porosos, desiguais, inconclusos e subalternos.
Nesses termos, para o senso comum adstrito aos interesses e angústias das autarquias industriais restantes na massa dos empresários e da pequena burguesia, emparedados pelos monopólios e pela usura, fica bem mais crível e atraente adotar uma restrição axiológica e política voltada, exclusivamente, aos seus próprios demônios: aos banqueiros e demais “financistas”, vistos como se fossem os únicos parasitas que infestariam o corpo econômico das nações e seriam responsáveis pelos males que o acometem.
Apesar de presente na cultura política atual e de sociologicamente explicável, essa desafeição pela usura e pela especulação – plurissecular e obstinada – é parcial, insuficiente e aderente às menções elogiosas que os decanos dos ideólogos burgueses sempre endereçaram ao capital “produtivo”, com o qual se identificam. Segundo a penetrante observação de Marx:
“As críticas dos economistas burgueses do século XVII (Child, Culpeper e outros) contra o juro como forma substantiva da mais-valia não eram senão a luta da burguesia industrial incipiente contra os antigos usurários, que então monopolizavam toda a riqueza pecuniária. […] As críticas socialistas dirigidas ao capital usurário, contra o que consideram como forma fundamental do capital, são críticas essencialmente burguesas, pois, por muito que se faça mudar a distribuição do lucro entre os diferentes grupos capitalistas, reduzindo-se o juro para aumentar o lucro industrial, a essência mesma da produção capitalista permanecerá intacta. Esse tipo de socialismo, sempre e quando suas críticas envolvam ataques inconsistentes e pouco inteligentes contra o capital em uma de suas formas derivadas, pugna, no fundo, sob falsas aparências socialistas, pelo fomento do crédito burguês […]”.8
Kurz assim retomou e repisou, contemporaneamente, o tema da inconformidade conservadora em face da usura:
“Com a importância crescente do crédito e dos bancos, nasce uma específica ‘crítica do capitalismo’ pequeno-burguesa, que por si se fixou no capital-dinheiro que rende juros e pôde retomar outra mais antiga execração contra a ‘cobrança de juros’, ancorada na maioria das grandes religiões (no cristianismo, tal como no judaísmo e no islão). […] As pequenas empresas têm normalmente tão pouco capital que em geral têm que se endividar em larga escala para poderem produzir. Após o pagamento dos juros e das amortizações pouco sobra para o próprio lucro. Neste meio é fácil instalar-se o sentimento de que já quase ‘se trabalha só para os bancos’. Esquece-se que não se poderia ter começado sem os bancos ou muito rapidamente se teria sucumbido no mercado. A ideia de que poderia haver uma rápida prosperidade do ‘trabalho produtivo’ honesto sem o ‘vampiresco’ capital que rende juros é pura ideologia baseada na mentalidade de pequena empresa. Não é por acaso que as utopias pequeno-burguesas do dinheiro, à moda de Proudhon ou de Gesell, têm em vista apenas as empresas familiares artesanais, a pequena produção secundária de serviços, etc., enquanto a grande produção socializada capitalisticamente e os seus agregados infraestruturais ficam fora do horizonte deste anticapitalismo reduzido, cheio de ressentimento.”9
Além de muito presente nas instituições patronais, também se encontra na academia e no mundo político a tradição de referir-se às diferentes frações da burguesia industrial como se fossem “classes produtoras”10 e “setores produtivos”.11 Tal astúcia é antiquíssima no Brasil e já cobrira o personagem Visconde de Mauá com aura heroica. Note-se que no Segundo Império, durante a crise final da formação econômico-social escravista, as expressões valorizadoras do capital “empreendedor” ainda faziam certo sentido.
De fato, o seu charme execrava o presente e apontava para relações laborais de novo tipo, ainda mais ao chicotearem o passado, que permanecia, e ostentarem as célebres conexões anglófilas, que eram vistas como modernas e progressistas – a ponto de ocultarem a existência de 1.690 cativos entre os 2.500 trabalhadores da britânica Cia. Morro Velho, na região dos atuais municípios Nova Lima e Raposos, Minas Gerais, às vésperas da abolição.12
Hoje, porém, semelhante opinião – sobrevivente como traço cultural passivo restaurado pela ideologia dominante para dialogar com a massa de sua base empresarial heterogênea, compor o discurso hegemônico e promover manobras diversionistas contra a crítica revolucionária – ignora o seguinte aspecto, por fim emerso ao primeiro plano nas formações econômico-sociais burguesas: somente a espécie variável do capital está vinculada, diretamente, ao dispêndio de força humana convertida em mercadoria transformadora, pois é a única parte do ativo monetário investido em compra da força laboral viva, por meio do salário.
Ao contrário, o dinheiro aplicado em instalações, máquinas, equipamentos e matérias-primas mantém-se constante, como esclarece o seu próprio nome. No entanto, a manifestação jurídica da lógica imanente ao modo de produção vigente legaliza, legitima e sanciona, para os donos do capital, o domínio – a posse transitória e o mando hierárquico – sobre as qualidades inerentes à “coisa” assalariada, isto é, sobre a sua capacidade físico-intelectual de transformar os objetos e gerar valores indispensáveis à captação de mais-valia, bem como, por extensão, aos lucros.
Amparando-se nessa forma singular de afetação legal, caracteristicamente capitalista – que envolve os seres humanos desapossados ou livres, que tem caráter ideológico e que se cristaliza no direito a partir das relações sociais situadas no centro objetivo articulador da sociedade civil burguesa –, a parcela industrial do patronato pôde reivindicar-se como criadora e apropriar-se, impunemente, do solene título de “produtiva”. Eis o pleito fundamentalista: qualidade com matéria de outrem, modo de ser com existência alheia.
Assim, ao adjetivo produtivo é sonegado seu legítimo substantivo, o trabalho, que representa a única dimensão objetiva do custo cujo dispêndio no processo econômico típico da sociedade alienada – em salários, isto é, em capital variável – possibilita o acréscimo de valor ΔV na transfiguração industrial, permitindo, portanto, em cascata, a coleta endógena de mais-valia e a expansão do próprio capital para além de sua quantidade inicialmente investida.
Por óbvio, o esforço de apossar-se intelectualmente dessa realidade apenas obterá êxito se evitar o ângulo adotado por Piketty, que usa capital, riqueza e patrimônio “como se fossem sinônimos perfeitos”, chegando mesmo a referir-se, na trilha dos historiadores vulgares, às ferramentas primevas de “sílex” elaboradas pelo gênero homo há mais de dois milhões de anos, no sudeste do continente africano – muito antes de existir a espécie sapiens! –, como se fossem nada menos do que “as primeiras formas de acumulação capitalista”.13
De qualquer maneira, a simpatia ideológica, devotada pelos discursos políticos, pelas matérias jornalísticas e pelas crônicas econômicas correntes, ao patronato socialmente útil, velando a sua reputação venerável, se estende aos segmentos burgueses responsáveis pela circulação comercial – em que a mais-valia se realiza na troca de bens por moeda – e pelos serviços empresariais. Seus membros, inclusive certos magnatas bilionários, estariam também integrados ao rol dos agentes desenvolvimentistas e candidatos qualificados à obtenção de concessões públicas.
Todos esses tipos – devidamente apresentados como simples vítimas dos assaltos bancários, dos achaques financeiros e das sanhas improdutivas – seriam virtuosos por definição. Ainda segundo as elucubrações em voga tais pessoas ou personificações comporiam, em seu conjunto, como vizinhos do povo em seu infortúnio, a banda avançada na contradição tida como nuclear e típica da mal chamada etapa neoliberal do capitalismo. Assim, seriam alçados à condição de antagonistas fundamentais dos especuladores.
Daí para a glamourização dos “produtores” e comerciantes de bens ou serviços, nas figuras de sócios indispensáveis ao crescimento econômico e de “parceiros” políticos desejáveis ou até imprescindíveis, bastou apenas um passo. Alguns foram mais longe, propondo que o trabalho firmasse um pacto duradouro com esses senhores e também alçando semelhante recomendação à categoria de estratégia – soi-disant revolucionária, mas na prática gradualista e quimérica.
Tal construto intelectual – subordinado aos valores dominantes e à sua regra pragmática segundo a qual caberia a quem paga a orquestra pedir a música e determinar os aplausos – nutre-se de uma concepção idealista sobre o progresso, que sempre o vê como universalidade abstrata ou, de outro modo, como evento sem particularidade de classe e movido pelas vontades genéricas dos indivíduos “empreendedores”. Ademais, exala um forte odor keynesiano – e, como se queira, neokeynesiano, pós-keynesiano, nacional-keynesiano, social-keynesiano ou keynesiano com preocupações social-liberais.
Ocorre que a sociabilidade hodierna contrasta com a lenda. Desde que se findaram os anos oitocentos europeus, o capital financeiro deixou de ser a simples moeda que circulava e se reproduzia de maneira independente ou em raia própria. Já não é hoje, exclusivamente, uma riqueza bancária, um instrumento rentista, um veículo especulativo ou, no jargão da moda, o dinheiro vagabundo, esses fetiches virtuais que em certas situações misteriosas teriam, por si sós, o condão de azedar o “humor” do mercado.
Há mais de cem anos – desde o alvorecer do século XX –, o capital financeiro tem sido o movimento superior que sintetiza, em um todo único, orgânico e superior, os diferentes movimentos do capital, antes autônomos – industrial, bancário, comercial, agrário e assim por diante. Converteu-se, pois, em uma espécie característica de relação socioeconômica que conforma, processa e promove, cotidianamente, a financeirização de suas formas pregressas, a monopolização das empresas e a própria recolha de mais-valia social.
Como, atualmente e cada vez mais, para os possuidores singulares de dinheiro e de bens em geral, especialmente na condição de capital, as exigências objetivas de liquidez se tornaram extremamente disseminadas, heterogêneas e complexas, uma vastíssima variedade de meios, papéis e nexos eletrônicos – denominados, genericamente, contratos – passou a ser mantida, estimulada, emitida, oferecida e comercializada por instituições operacionais especializadas.
Nesse quadro abrangente, a imagem de um espectro maligno a perambular, freneticamente, na estratosfera – descolada completamente do processo produtivo e flanando no limbo da economia – é deveras enganosa. Será bem menos extravagante e mais proveitoso direcionar o esforço intelectual para se detectarem os modos de existência substanciais em que se transmuta o capital em seu próprio mundo real, percorrer a sua história, estabelecer a sua essência como relação de classe e desvendar as formas atuais de sua lógica imanente. Mas a entrada em semelhante caminho exige uma inclinação conceptiva e metodológica fundada no materialismo dialético.
1 YUPANQUI, Atahualpa. Los Hermanos (milonga com música de Pablo del Cerro, pseudônimo de Antonieta Paula Pepin Fitzpatrick, companheira do letrista). In: REGINA, Elis. “Falso brilhante”. Gravações Originais, Volume 3, Polygram, 1976.
2 EXPÓSITO, Homero Aldo. Chau… no va más (tango). Apud: BRAGA, Mauro Mendes. “Tango – A música de uma cidade”. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2014, p. 406 (Tradução do Autor, doravante, TA).
3 KURZ, Robert. As Perfídias do Capital Financeiro. In: Revista “Streifzüge”, nº 3/2003, Viena, http://obeco.planetaclix.pt (consultado em março de 2014).
4 MARX, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858. México, Siglo Veintiuno Editores S.A., 1971, Vol. 1, p. 3 (TA).
5 DEFOE, Daniel. As aventuras de Robinson Crusoe. Companhia Editora Nacional, 2005.
6 MARX, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858. México, Siglo Veintiuno Editores S.A., 1971, Vol. 1, p. 3 (TA).
7 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. Lisboa, Guimarães Ed., 1986, p. 59.
8 MARX, Karl. Teorias de la plusvalia. Madrid, Albert Corazon Editor, s/d, Tomo II, p. 376 (TA).
9 KURZ, Robert. As Perfídias do Capital Financeiro. In: Revista “Streifzüge”, nº 3/2003, Viena, http://obeco.planetaclix.pt (consultado em março de 2014).
10 BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A UDN e o udenismo: ambiguidades do liberalismo brasileiro (1945-1965). Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1981, p. 55.
11 SERRA, José. Discurso de posse no Ministério das Relações Exteriores. In: Estado de Minas, 19/5/2016, Internacional, p. 11.
12 GROSSI, Yonne de Souza. Mina de Morro Velho: A Extração do Homem – Uma história de experiência operária. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1981, p. 38.
13 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro, Editora Intrínseca, 2014, pp. 53 e 209.
Os artigos assinados não expressam, necessariamente, a opinião de Vereda Popular, estando sob a responsabilidade integral dos autores.