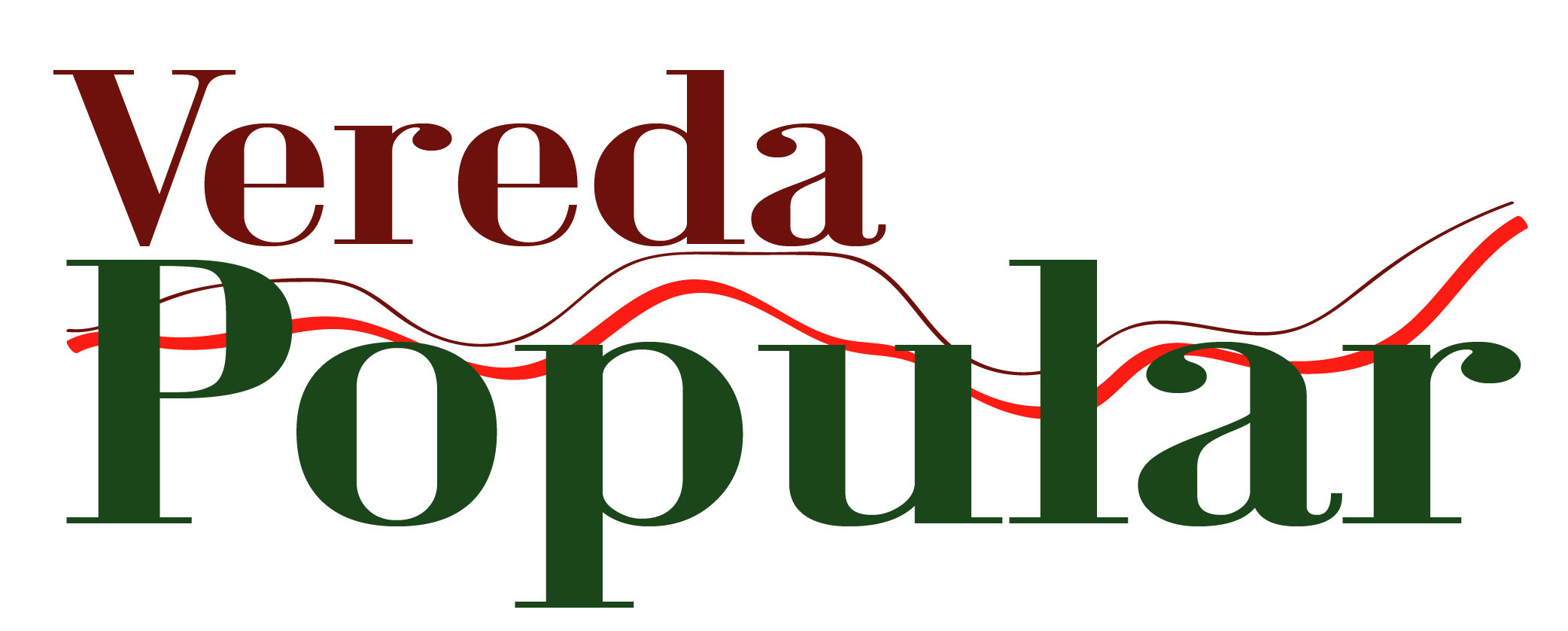O portal Vereda Popular continua publicando Anatomia de um credo (o capital financeiro e o progressismo da produção), livro recente de Ronald Rocha, Editora O Lutador, Belo Horizonte. Segue o derradeiro capítulo da obra, de número VIII.
Capítulo VIII
Ideação e miséria política
Em suma, os economistas filiados à definição antiga de capital financeiro encampam e promovem, extemporânea e mecanicamente, a sua separação conceitual das formas empresariais particulares que no topo já se fundiram e formaram um conjunto único, desde o início do século XX nos países imperialistas e mais tarde no Brasil. Destarte, ignoram que semelhante síntese vem prosseguindo e se aprofundando nos dias atuais.
Por seu turno, a confusão entre os diferentes atos e concepções de privatização e de concessão induz alguns setores de esquerda a adotarem enfoques bipolares e recorrentes: em uma ponta, procuram amalgamar os dois processos distintos, descaracterizando-os em suas particularidades, como se fossem uma só coisa; no extremo diametral, tentam separá-los, metafisicamente, como se estivessem isolados entre si pela Muralha da China.
A repetição desses clichês e a sua propagação pela mídia interessada em simplificar ou iludir acabam estimulando e potencializando, de maneira mais ou menos pronunciada e explícita, vários equívocos, que por sua vez ajudam a gerar ou fortalecer desdobramentos nefastos às maiorias nacionais. Se tais angulações prevalecessem e se consolidassem na consciência dos trabalhadores – de modo mais amplo, na cultura e nos valores dos “de baixo” – condenariam as lutas populares a derrotas recorrentes e, no limite, decisivas.
Antes, porém, de apresentá-los e discorrer sobre os seus prováveis resultados práticos, cumpre esboçar o ambiente em que a discussão precisa se situar e os parâmetros que a devem balizar. Para evitar especulações vazias, o único ponto de partida profícuo reside em reconhecer o fundo ôntico da política como disputa entre classes – integral ou setorialmente –, em torno das poliédricas e abrangentes esferas, órgãos e atividades do Estado. Semelhante asserção vale também para sua fisionomia mais radical e genérica, o combate entre forças e campos pelo poder – não, simplesmente, pelo governo –, com vistas a se responderem às seguintes perguntas: quais agentes, indivíduos, agrupamentos, partidos ou alianças e para que fins são compelidos a exercê-lo?
Tal contencioso, devidamente visto como ser social – o Gesellschaftlichen Seins de Marx[1] –, articula-se ao modo de produção em cada época dominante[2] e dá-se na formação econômico-social que o envolve no dinamismo real de suas “múltiplas determinações e relações”.[3] No caso do Brasil atual trata-se, ao final das contas, do capitalismo monopolista-financeiro dependente e territorializado.
A volição do sujeito revolucionário, por maior força intersubjetiva que tenha ou consiga reunir, tem, pois, limites objetivos e intransponíveis em cada situação concreta. Jamais deverá se iludir quanto à capacidade de apoiar-se em si mesmo – em sua atividade meramente positiva e construtiva – no afã de transformar, substancialmente, a mesma sociedade civil que produz e replica, de maneira estrutural e cotidiana, os seus próprios condicionantes e circunstâncias.
Do contrário, estaria tentando agir como o visionário Barão de Münchhausen, que, na fábula germânica, saiu do atoleiro puxando para cima os próprios cabelos, com cavalo e tudo.[4] Explanando de outra maneira: o Estado e a práxis política, cativos de suas lógicas infradeterminadas, em vez de serem causa sui rendem sempre obséquios à sociedade civil que os produz em última instância. Eis por que, concomitantemente à defesa da práxis contra a mera contemplação, deve-se reclamar a negatividade contra as concepções e proposições idealistas.
Nessa perspectiva, Marx, em oposição a “uma revolução social com uma alma política”, cujo caráter chamou de “parafrásico ou absurdo”, propôs como “racional […] uma revolução política com alma social”[5]:
“Pode o Estado comportar-se de outra forma? […] O Estado jamais encontrará no ‘Estado e na organização da sociedade’ o fundamento dos males sociais […].Quando o Estado admite a existência de problemas sociais, procura-os ou em leis da natureza, que nenhuma força humana pode comandar, ou na vida privada, que é independente dele, ou na ineficiência da administração, que depende dele. […] O intelecto político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política. Quanto mais agudo ele é, quanto mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males sociais. […] O princípio da política é a vontade. Quanto mais unilateral, isto é, quanto mais perfeito é o intelecto político, tanto mais ele crê na onipotência da vontade e tanto mais é cego frente aos limites naturais e espirituais da vontade e, consequentemente, tanto mais é incapaz de descobrir a fonte dos males sociais.”[6]
Tamanhos rigor e coerência nada têm de paroxísmicos ou inflexíveis. Quaisquer altercações políticas, das mais complexas e aparentemente ininteligíveis às mais simples e diretas, são intrinsecamente mediadas, já que protagonizadas por pessoas, organizações e frações de classe plenas de mundanidade. Os sujeitos apresentam, por serem reais, diferentes condições de existência, trajetórias pessoais ou coletivas, inserções práticas, consciências adquiridas, constrangimentos objetivos, envolvimentos casuais e dilemas singulares, combinados à liberdade imanentemente agregada ao ser social, começando pela necessidade, o carecimento e a teleologia do trabalho.
Eis por que o exercício emancipatório da política – longe de ser a realização abstrata da moral na cultura, da racionalidade nos princípios, do contrato nas leis, da teoria social nas revelações e dos desejos nos mitos – implica a elaboração e a escolha de rumos estratégicos, bem como, em conjunturas e períodos específicos, as exaustivas e ingentes formulações e atividades táticas, mas sempre com imbricação na realidade e na experiência. Concomitantemente, as instâncias políticas do agir humano são eivadas de nuanças e sensibilidades, irredutíveis à essência dos processos e das matérias que abordam na perspectiva de transformá-los ou conservá-los.
A substância e a volição, se encapsuladas, respectivamente, na contemplação ou na intenção, tornar-se-iam impotências exemplares. Assim, condena-se ao fracasso o realismo cínico – inclusive o economicismo e o cretinismo parlamentar –, adaptado por definição à ordem societária tida como natural, como se aos seres humanos restasse tão somente uma feuerbachiana observação passiva da objetividade ou uma laplaceana submissão a leis de bronze na história. Malogram também os doutrinarismos e fundamentalismos, com suas fraseologias – conforme Lênin, “os raios declamatórios”[7] –, suas compulsões testemunhais, reduções do contencioso à pura equação empírica de “classe contra classe”, normas de abstencionismo eleitoral, reclamações vestalinas ou violências performáticas, que se distanciam, cada qual à sua maneira, dos processos vivos e experimentados pelo povo.
Há, pois, uma autonomia somente relativa entre as determinações econômico-sociais e as condutas dos agentes políticos, no patamar dos indivíduos, correntes, agrupamentos e partidos. Apenas a práxis – dimensão humana da história – pode completar os elementos circunstanciais e as frestas presentes na correlação de forças, na situação das massas e, é claro, nas diferenças internas à sociedade política burguesa, inclusive, eventualmente, às suas frações hegemônicas, que podem ter relevância conjuntural. Contudo, é inviável separar, teórica e estrategicamente, por simples ato subjetivo, os interesses que a realidade associou e continua promovendo.
Decisivo é perceber que, no fundamental, os grandes grupos industriais já se vincularam, organicamente, aos financeiros, carreando atrás de si o estrato gerencial superior de suas redes, que personificam o capital. A pequena burguesia e os empresários subalternos sofrem os efeitos do ditado dominante, mas – diferentemente do proletariado, que possui necessidades radicais fincadas no processo laboral – são atingidos somente nas esferas da circulação e da sua relação com o Estado, em que lidam com os efeitos assimétricos na divisão de trabalho, na tributação, na renda e nas oportunidades. Inobstante, sem menosprezar outras dissensões, nesse universo aparecem fissuras que permitem certas mediações políticas.
No Brasil atual, os eventuais cortes políticos no mundo do capital – para serem factíveis e gerarem proveitos táticos para as lutas populares, em alguns casos até repercutindo no programa mínimo – devem considerar, de acordo com as circunstâncias, as contradições objetivas entre dois subconjuntos em situação distinta: os beneficiários diretos do mecanismo único de exploração e opressão, capitaneado pela oligarquia financeira e pelo imperialismo; a massa dos empresários exteriores ao circuito monopolista, em sua maioria de porte reduzido.
Merece atenção a pequena-burguesia – não confundir com burgueses pequenos –, que é formada por trabalhadores detentores da propriedade ou da posse de instalações e instrumentos laborais, assim como controladores de sua própria atividade na produção simples de mercadorias, na circulação de bens e na prestação de serviços, inclusive nos ramos de transporte, reparações, comércio, profissões “liberais” e assim por diante.
Essa classe vasta e multifacetada, inatingível pela noção empirista, vaga e pantanosa de “classe média” – no singular ou, como quer Piketty, no plural (“médias”) e nomeada como “B”[8] –, integra o povo brasileiro e engloba também o campesinato, além de extratos consideráveis das populações urbanas empobrecidas. Ademais, independentemente de sua renda, é – na luta política sob o capitalismo – alvo constante da disputa entre projetos e polos antagônicos, pois se encontra premida por sua condição dúplice nas relações econômico-sociais.
Consideradas semelhantes premissas e condições, torna-se possível sintetizar alguns enunciados críticos à pretendida concertação do trabalho e das camadas populares com a “produção” ou as “classes produtoras”. Surge ainda o imperativo de apontar, assertivamente, suas prováveis e mais graves consequências políticas, muitas já em curso e perceptíveis. Um exemplo é a ideia de “pacto nacional”, com a qual o governo Dilma Rousseff, emparedado pela ofensiva da direita com vistas à sua deposição, tentou em vão segurar a base esgarçada e apelou por apoio às principais instituições do capital na sociedade civil. Outro é a ressonância positiva que tal “concórdia” obtém em certos setores sindicais.
A tese de que o desenvolvimento econômico dentro da ordem monopolista-financeira poderia conduzir à emancipação nacional e social, além de irreal em si, desdobra-se na seguinte quimera: as “classes produtoras” teriam interesse em combater a fundo os “financistas” e, portanto, em compor um arco de alianças “antineoliberal”. Considerando-se as questões teóricas surgidas na história do movimento comunista no Brasil, seria o aggiornamento da “burguesia nacional” – noção já criticada nos anos 1960 por setores de esquerda, inclusive Caio Prado Junior,[9] embora com uma série de confusões, e que está no cerne da estratégia etapista-reformista:
“No início de 1959, […] o PCB estava empenhado na aplicação da orientação política aprovada em março do ano anterior, sob a inegável influência do nacional-desenvolvimentismo. Era forte a ilusão das possibilidades de conquistar, pela pressão de massas, uma correlação de forças dentro do governo que permitisse a adoção de medidas capazes de assegurar o desenvolvimento de um capitalismo autônomo e democrático no Brasil. A partir desse patamar, previa-se que os comunistas pudessem abrir caminho para as transformações de caráter socialista no país.”[10]
Agora, em uma situação econômico-social que o torna ainda mais extemporâneo, o mito retornou com alcance amplificado, concomitantemente ao abandono das questões nacional e agrária, já que inclui os grupos industriais lato sensu e renuncia às transformações de fundo. Portanto, situa-se em uma posição aquém do informe apresentado pelo Comitê Central do PCB ao V Congresso, em 1960, o qual pelo menos criticava uma “impressão” deixada pela Declaração de Março de 1958:
“[…] a então chamada ‘revolução anti-imperialista e antifeudal’ deveria ser a culminação consequente do atual curso de desenvolvimento econômico e político. […] Este curso é, porém, no essencial conciliador com a dependência imperialista e com o monopólio latifundiário da terra, agrava as contradições fundamentais da sociedade brasileira sem ser capaz de superá-las.”[11]
Ademais, contrasta com a opinião emitida por Prestes em 1977, às vésperas de seu retorno do exílio, repudiando a ilusão liberal e a esparrela evolucionista:
“[…] inadmissível chamar a classe operária à luta pela ‘democracia burguesa’, por um suposto desenvolvimento capitalista independente”.[12]
Quando a concentração e a centralização de capitais já chegaram à maturidade, os adeptos do novo gradualismo têm aceitado políticas que favorecem renúncias a alguns direitos do trabalho assalariado. Somente assim, admitindo a retirada ou a redução de conquistas e benefícios, seria possível contemporizar os anseios populares – nucleados pelo proletariado – com os interesses dos imaginados “parceiros” conservadores, muitos dos quais comprometidos com os oligarcas-financeiros ligados aos monopólios industriais. O mesmo se pode afirmar quanto aos pleitos democráticos do campesinato.
Os valores da colaboração assimétrica – que marcaram o discurso hegemônico no Planalto até o impedimento, especialmente em 2015 e 2016, quando a crise cíclica atingira o auge e o isolamento se instalara – intentam em sua lógica remover a luta de classes, fulcro da política revolucionária, do já parco horizonte possibilista. A contradição trabalho versus capital sequer conseguiria lugar em face da centralidade conferida às escaramuças contra os rentistas.
O ambiente intelectual de frouxidão e liberalidade, em que a vulgata de capital financeiro pontifica, propicia a substituição dos objetivos socialistas – e até mesmo das reformas sociopolíticas antimonopolistas, anti-imperialistas, antilatifundiárias e democráticas dentro da ordem – pelo culto a certo capitalismo industrial e popular, como se viu em pronunciamentos oficiais e vem aparecendo nos apelos de instituições privadas pelo chamado empreendedorismo.
A defesa irrestrita das concessões – a exemplo do que fizeram setores de esquerda quando, estando apenas no governo, se julgaram no poder – também equivale a se endossarem os conglomerados privados, como se fossem fatores intocáveis e imprescindíveis ao desenvolvimento. Pelo avesso, o seu rechaço por princípio – a pretexto de haveria sua identidade completa com a pura privatização – expõe a expectativa de que as empresas estatais fossem neutras ou até, para os mais afoitos, consubstanciassem uma parcela de socialismo.
Por igual, o esforço de pacto ou colaboração do trabalho com os grupos multinacionais internalizados nas cidades e no campo – frequentemente, investidores em capital variável ou trabalho produtivo, com presença em indústrias urbanas e grandes extensões fundiárias – se encontra atolado no pântano conceitual, em que tateia empiricamente, abandona a questão nacional e desarma as forças populares.
Destarte, a reforma agrária é imolada no altar do capital territorializado. Os latifundiários – autodenominados membros do “agronegócio” e do “ruralismo”, para obscurecerem, seja o monopólio da terra, seja a singularidade dos arrendatários, posseiros e pequenos proprietários – a julgam uma violação ao sacrossanto direito à propriedade privada sobre os meios de produção. Por seu turno, os partidos, organizações e movimentos social-liberais a têm como algo incômodo, a ser deixado na penumbra, ao que se agrega o antigo veredito, propagado por alguns intelectuais, de que no País o campesinato estaria extinto ou jamais teria existido.
Renúncia similar vem ameaçando dissolver a questão democrática: omite que a mal chamada “produção” sustenta um controle tirânico sobre o processo de transformação industrial, a força de trabalho e os critérios de tributação – enfim, sobre o conjunto da vida social –, tidos como indispensáveis à “eficiência” econômica e à melhoria do “custo Brasil”.[13] Eis o que defendem, diuturnamente, os ideólogos e as instituições veneráveis do capital, justificando ainda os traços policialescos e juristocráticos do regime democrático-constitucional com cariz restritivo, que tentam consolidar e aprofundar.
Por fim, a difusividade intelectual nas fronteiras entre as classes “de baixo” e seus principais oponentes “de cima” dissipa a centralidade da ação política transformadora. Assim, ensarilhando a arma da crítica na confiança e no entendimento entre lobos e cordeiros, o lusco-fusco transforma a unidade popular em algo amorfo, lança o esforço contra-hegemônico no lixo e deixa o bloco histórico estratégico para as calendas gregas.
Em síntese, a política revolucionária precisa considerar e compreender a realidade para transformá-la. Comprometida filosófica e praticamente com a verdade, cuja necessidade subjetiva como carecimento, repudia o pragmatismo de Maxwell Scott – jornalista do filme The man who shot Liberty Valance, dirigido por John Ford –, que declarou, ao perceber a versão fantasiosa sobre a biografia do entrevistado, o senador Ransom Stoddard: “Quando a lenda se torna fato, publique-se a lenda”.[14]
Para o discurso acorrentado ao credo antediluviano de capital financeiro, alimentado pela ideologia do pequeno e do médio empresariado, alegremente acolhido por alguns setores da intelectualidade progressista, resta o menosprezo à exterioridade ou a esquizofrenia de assimilá-la obliqua e nostalgicamente, conforme o tango elegíaco de Homero Expósito: “Viver é mudar / Em qualquer foto velha o verás”.[15]
[1] MARX, Karl. Contribución a la critica de la Economia Política. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. “Obras Escogidas”. Moscú, Editorial Progresso, 1980, Tomo I, p. 519.
[2] MARX, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858. México, Siglo Veintiuno Editores S.A., 1971, Vol. 1, p. 3.
[3] Idem, ibidem, p. 21 (TA).
[4] RASPE, Rudolf Erich. As Aventuras do Barão de Münchhausen. São Paulo, Ed. Iluminuras Ltda., 2010.
[5] MARX, Karl. Glosas críticas marginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social. De um prussiano”. In: Revista Práxis nº 5, Out-Dez., Belo Horizonte, Editora Projeto, 1995, p. 90 (IAC).
[6] Idem, ibidem, pp. 79 a 82.
[7] LÉNINE, V.. Sur l’infantilisme “de gauche” et les idées pétites-bourgeoises. In: LÉNINE, V.. “Oeuvres”. Paris/Moscou, Editions Sociales / Editions du Progrès, 1976, Tome 27, p. 351 (TA).
[8] PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro, Editora Intrínseca, 2014, pp. 245 e 246.
[9] PRADO JUNIOR, Caio. A Revolução Brasileira. São Paulo, Editora Brasiliense, 1966.
[10] PRESTES, Anita Leocádia. Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro. São Paulo, Boitempo Editorial, 2015, p. 325.
[11] COMITÊ CENTRAL DO PCB. Informe ao V Congresso. Rio de Janeiro, Cedem/Unesp (Fundo Roberto Morena), p. 18. Apud: PRESTES, Anita Leocádia. “Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro”. São Paulo, Boitempo Editorial, 2015, pp. 335 e 336.
[12] PRESTES, Luiz Carlos. Intervenção de Prestes no Pleno do Comitê Central do PCB. Apud: PRESTES, Anita Leocádia. “Luiz Carlos Prestes: um comunista brasileiro”. São Paulo, Boitempo Editorial, 2015, p. 463.
[13] SERRA, José. Discurso de posse no Ministério das Relações Exteriores. In: Estado de Minas, 19/5/2016, Internacional, p. 11.
[14] ARRIGUCCI JÚNIOR. O homem que matou o facínora. In: http://acervo.revistabula.com (consultado em junho de 2014 e TA).
[15] EXPÓSITO, Homero Aldo. Chau… no va más (tango). Apud: BRAGA, Mauro Mendes. “Tango – A música de uma cidade”. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2014, p. 406 (TA).
Os artigos assinados não expressam, necessariamente, a opinião de Vereda Popular, estando sob a responsabilidade integral dos autores.