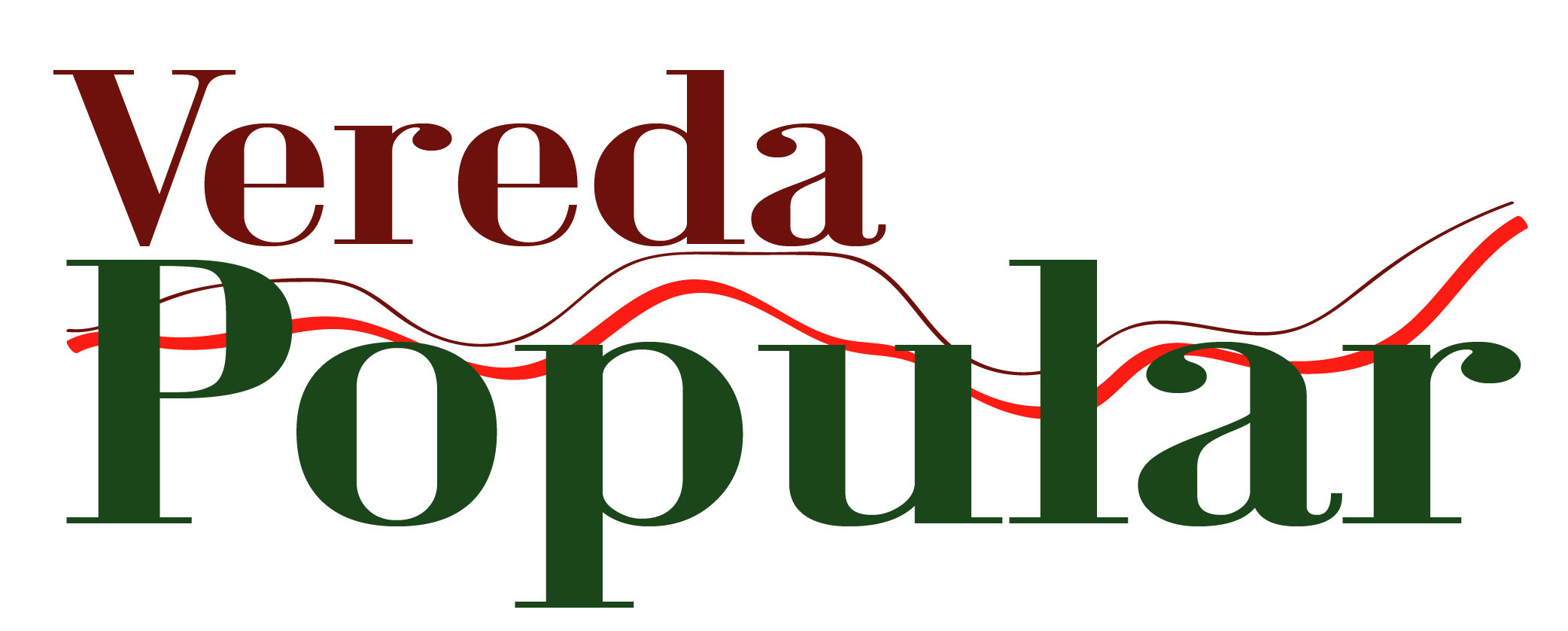O portal Vereda Popular continua publicando a Linha Sindical do Partido da Refundação Comunista (PRC), aprovada no Ativo Nacional Sindical e depois ratificada pelo Comitê Central. Segue o Capítulo VI.
VI – O movimento sindical brasileiro de 1945 em diante
Em 1945 se organizou o Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT), exigindo liberdade sindical, fim do Departamento de Imprensa e Propaganda e extinção do Tribunal de Segurança Nacional. Em 1946, já depois da posse de Dutra, o Congresso Sindical dos Trabalhadores do Brasil, com 2.400 delegados reunidos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, criou a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB). Após o avanço eleitoral dos comunistas e a promulgação constitucional, o Governo Federal resolveu brecar o processo democrático e desencadear a repressão. Ante os acúmulos do movimento popular e o militarismo imperialista – que antecipava o macarthismo, a Guerra da Coréia e a “guerra fria” –, o novo presidente proibiu manifestações, invadiu residências, reprimiu sindicalistas, assassinou militantes, proscreveu o PCB e cassou os mandatos comunistas. Com apoio da UDN, criminalizou a greve, proibiu o MUT, fechou a CGTB e interveio em 400 de suas entidades filiadas.
O movimento sindical viveu dilemas complexos. A decisão de responder à escalada repressiva com a organização de associações “democráticas” à parte, em cada categoria profissional, enfraqueceu a influência marxista sobre as massas proletárias. A justa criação de representações gerais proibidas por lei se extrapolou para a quebra da unicidade por baixo, abrindo caminho ao monopólio pelego na estrutura real e aumentando a exposição dos revolucionários ao ataque inimigo. Prestes, signatário dos Manifestos de Janeiro, em 1948, e de Agosto, em 1950, usados como justificação da nova linha sindical do PCB, criticou: “escrevi uma longa carta citando […] Esquerdismo, doença infantil do comunismo. […]. Queria mostrar que os comunistas deviam participar dos sindicatos […], era […] mais vantajoso participar de sindicatos legais”; “os sindicatos paralelos não tiveram êxito”.
O equívoco foi corrigido em julho de 1952 pela resolução Ampliar a organização e a unidade da classe operária, que determinou aos militantes “ingressar em seu sindicato, tornar-se ativo militante sindical”, embora mantendo a disputa contra os dispositivos antidemocráticos da legislação vigente – atestados ideológicos, intervenções e aparelhamento. No entanto, a mobilização na zona rural começou a oscilar entre movimentos temáticos, como as Ligas Camponesas, e entidades representativas com presença proletária. Sem querer menosprezar o papel desempenhado pelas demais formas do movimento agrário, registre-se a importância da fundação de aproximadamente mil sindicatos e da criação em 1963 da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura.
A recuperação do espaço perdido – retirado pela ação repressiva, que fora facilitado pela orientação sectária e isolacionista – aconteceu nos governos seguintes: as lutas passaram os anos 1950 em crescimento e se fundiram, na passagem aos sessenta, com o pleito por reformas. Os dois presidentes seguintes, Getúlio e Juscelino, cada qual ao seu modo, articularam estratégias burguesas calcadas no desenvolvimentismo. Ambos precisavam acenar aos “de baixo” para tecer alianças amplas e neutralizar as pressões golpistas da reação, resguardando assim os acordos eleitorais. Vargas, que no “Estado Novo” retirara a coleira de Felinto Müller e o soltara contra os comunistas, depois passou a associar o trabalhismo aos interesses nacionais e ao projeto de industrialização, pacto político que adquiriu feição trágica com o suicídio de 1954.
Todavia, Vargas preservou, por meio de Goulart, a ponte político-institucional com a modernização conservadora e cosmopolita de seu sucessor. Kubitschek, que votara pela cassação dos mandatos comunistas em 1947, mas recebera seu apoio eleitoral em 1955, declarou “que as reivindicações operárias dependem de sindicatos fortes e estes só poderiam surgir nas localidades de grande concentração de trabalhadores, onde se caracterizam, naturalmente, o espírito associativo e a união para defesa dos interesses comuns”. Afirmou também a necessidade de manter “o princípio da unidade sindical e obrigatoriedade do imposto sindical, no qual se esteiam o poder de representação e a autoconfiança dos sindicatos brasileiros”. Novos espaços e horizontes se abriram.
De 1940 a 1953, o proletariado fabril duplicou para 1,5 milhões. Nos anos 1950, o PIB per capita no Brasil cresceu três vezes mais que no restante da América Latina. De 1951 a 1953 ocorreram 1.500 paralisações, que atingiram dois terços da classe. Em São Paulo, exprimindo as conquistas obtidas na célebre Greve dos 300 Mil, surgiu em 1954 o Pacto de Unidade Interssindical, que em 1961, somado a entidades cariocas, transformou-se no Pacto de Unidade e Ação. Multiplicaram-se as campanhas nacionais, de cunho anti-imperialista: contra a bomba atômica, o envio de tropas à Coreia e o Acordo Militar Brasil-EUA, bem como pela criação da Petrobrás. Pouco mudou, porém, no arcabouço legal: os sindicatos continuaram sob o controle ministerial e o regime democrático permaneceu marcado por restrições.
A fase de ascensão experimentada pelo movimento proletário acontecia com um pano de fundo econômico-social concreto. Foi nos anos 1950, em época posterior em relação à Europa e aos EUA, que o capitalismo começou a gerar monopólios econômicos no Brasil. Os investimentos estrangeiros, que já penetravam sem obstáculos durante o Governo Dutra, estiveram também presentes nos esforços getulistas voltados à construção estrutural do parque fabril, mesmo com suas veleidades patrióticas, e se consolidaram no mandato de Juscelino com a chegada de grupos transnacionais, indo além da antiga presença que mantinham nas esferas da circulação doméstica e do controle exógeno sobre as riquezas locais.
Com a industrialização acelerada, os conglomerados privados se fortaleceram e intensificaram sua competição pela primazia total e incontestável. A “modernização” passiva da produção penetrava as diferentes esferas da vida social e se estendia às instituições governamentais, passando a exercer, apesar de carregar contradições intestinas, considerável influência econômica e política. Na primeira metade dos anos 1960, com o auge da Golden Age mundial do capitalismo, o aggiornamento conservador na economia nacional começou a se expressar como interesse político dos grupos monopolista-financeiros fortalecidos, passando a disputar o controle do aparato público contra o que seus ideólogos enxergavam como estatismo e licenciosidade republicana.
No capitalismo retardatário e dependente, com o auge da “guerra fria” na geopolítica mundial, com o crescimento dos movimentos populares, com a ascensão nacional das lutas por reformas de base, com o engajamento da intelectualidade progressista à esquerda, com o vácuo de supremacia entre as várias frações do capital, com a sociedade política burguesa perpassada por disputas sectárias e com o governo federal permeável a reivindicações vindas “de baixo”, era improvável que a reorganização autocrática do Estado, já preparada pela fusão em marcha de seus órgãos com os conglomerados monopolista-financeiros, acontecesse sem traumas, pacificamente e pela via democrática, em que o consenso jogasse o papel central.
Como se não bastasse, a crise conjuntural, com inflação e recessão, completava o ambiente instável e oferecia pretextos aos conluios da oposição liberal-conservadora, encabeçada pelo lacerdismo e robustecida pela conspiração nos quartéis. Em face dos profundos dilemas nacionais, dos conflitos incontornáveis e do reduzido espaço ao exercício de mediações, que até foram tentadas à exaustão, os representantes dos grandes grupos econômicos e seus aliados – impotentes no âmbito da representação política formalizada e da correlação de forças expressa pelo sufrágio – decidiram recorrer à cirurgia extralegal, isto é, à linha mais aderente à tradição direitista, mais simples à efetivação, mais rápida na execução e mais garantida no resultado imediato.
O golpe de 1964 foi o ajuste formal do Estado burguês à concentração e centralização do capital sob a hegemonia da oligarquia monopolista-financeira, contra as lutas nacionais, democráticas, proletárias e camponesas. Ocorreu sob os auspícios dos cartéis transnacionais e do latifúndio, autonomeados como defensores da civilização ocidental e da moral, bem como impulsionados pela ingerência estadunidense. Os segmentos mais retrógrados da classe dominante suprimiram a república constitucional, em que os representantes partidários da burguesia geriam a coisa pública, e cederam às Forças Armadas o papel de mediador, com o respaldo de Washington e das sobrevivências ultramontanistas na Igreja Católica, que prepararam a “Marcha da Família, com Deus, pela Liberdade”.
O movimento sindical, que vinha de intenso protagonismo desde os anos 1950, resistiu às forças direitistas e às articulações antidemocráticas. Em 1960 e 1962, o III e o IV Congresso Sindical Nacional criaram e formalizaram o Comando Geral dos Trabalhadores, que sucedeu ao Comando Geral de Greve, congregou vários fóruns, deu exemplo de unidade e se alçou ao primeiro plano na luta de classes. Tal entidade geral, em 1961, quando Jânio renunciou, sustentou a posse de João Goulart com a greve-geral. Em 1962, desenvolveu papel decisivo na antecipação do plebiscito pelo Congresso Nacional. Em 1964, ajudou a mobilizar 200 mil pessoas para o comício na Central do Brasil. Em 30 de março, por nota pública, apelou à greve-geral, dessa feita contra o golpe militar.
À frente da paralisação, que se revelou parcial, os ferroviários do Rio de Janeiro e os mineiros da Cia. Morro Velho cruzaram os braços em apoio ao governo constitucional, dando exemplo de combatividade. Ao mesmo tempo, cumprindo exatamente o papel divisionista e de linha auxiliar patronal – que lhe era reservado desde o nascedouro e integrava a sua concepção –, as entidades confessionais, articuladas como sempre na ambiência do pluralismo defendido e forçado pela direita, imediatamente hipotecaram o seu apoio aos golpistas. Os seus nomes ficaram registrados na história como exemplo de colaboracionismo: Movimento Sindical Democrático; Resistência Democrática dos Trabalhadores Livres; Movimento Renovador Sindical; e até mesmo a “centrista” União Sindical dos Trabalhadores.
Nem o movimento sindical, demasiadamente oficialista, nem Goulart, dissolvido nas esferas do Estado, puderam resistir. Por sua vez, o movimento comunista, dividido desde 1962, estava desnorteado pela tese da revolução em duas etapas, assim como tinha o seu maior partido fragilizado pelo reformismo, pela ilusão na “burguesia nacional” e pela expectativa em um contragolpe institucional. Neste quadro, a operação castrense se antecipou à situação revolucionária, intervindo antes que as massas ingressassem em um caminho independente. A resistência democrática se viu em uma correlação de forças desfavorável. O Massacre de Ipatinga, em Minas Gerais – 7/10/1963 –, quando policiais militares mataram ou feriram mais de 100 operários da Usiminas, antecipara a repressão que o golpe iria instituir.
O regime ditatorial-militar, com o AI-1, listou a primeira centena de cassados: 31 eram sindicalistas. Paralelamente, deteve, torturou e assassinou militantes em massa: só nos municípios mineiros de Nova Lima e Raposos, onde ficava a Cia. Morro Velho, invéstigou 660 pessoas e interrogou 300, na maioria operários. Interveio em diretorias de 1.565 sindicatos e 49 federações ou confederações. Demitiu milhares de funcionários públicos. Implantou o arrocho salarial e o mascarou pelo Programa de Integração Social (PIS). Decretou que as entidades seriam somente assistenciais: o Plano de Valorização dos Sindicatos, com financiamentos e doações, os proibia de fazer algo além da pura prestação de serviços médico-odontológicos, jurídicos, recreativos, educacionais, habitacionais e creditícios.
Mas a resistência proletária permaneceu viva. De 1965 a 1970 houve 80 greves. Em 1967, criou-se o Movimento Intersindical Antiarrocho (MIA) em São Paulo. Em 1968 houve paralisações contra o atraso nos salários, inclusive no 13º. À revelia dos interventores e colaboracionistas, comissões de fábricas ressurgiram e dirigiram lutas locais. Em 1968, houve uma sucessão de greves: em abril, os metalúrgicos de Contagem pararam em ato heroico e pioneiro; no meio do ano, a ocupação da Cobrasma fechou várias indústrias em Osasco, sendo o sindicato imediatamente controlado pelo Ministério do Trabalho; três meses depois, os operários se levantaram novamente em Contagem contra o arrocho salarial, com a violência policial-militar o alvejando brutalmente; no mesmo ano, os cortadores de cana em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, cruzaram os braços.
O redespertar proletário, que fora represado pela coerção até 1978, aconteceu no ABC paulista com formas de lutas em ampliação e ascensão. Os metalúrgicos ignoraram a legislação repressiva e se associaram ao movimento democrático já em marcha. Em outubro, fizeram a primeira greve geral da categoria em São Paulo depois do golpe militar: os 250 mil trabalhadores parados se somaram ao milhão de grevistas nos demais ramos. Em 1979, mais de 430 paralisações envolveram 3,2 milhões de trabalhadores em várias categorias, incluindo servidores públicos. O processo se manteve ascendente no ano seguinte. A partir de 1983, os petroleiros também entraram em cena.
O ambiente passou a ser favorável à luta democrática. A expansão do pós-guerra se esgotou em 1972 e cedeu lugar à fase depressiva do 4º Kondratieff. O regime entrou no plano inclinado e, no final da década, deparou-se com o protagonismo popular. Concomitantemente, reorganizavam-se ou surgiam partidos de esquerda. Nesse quadro, as demandas e ações proletárias colocaram a urgência de um instrumento unificador. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, alçado à condição de referência geral, passou a articular um bloco de ativistas que majoritariamente vinham da luta democrática e careciam de tradição partidária. Os dirigentes desse campo, autoproclamados autênticos ou combativos, colocavam-se como sujeitos do “novo sindicalismo” construído “pela base”.
Em 1980, reunidos no Encontro de Monlevade, Minas Gerais, seus representantes lançaram um programa para “incentivar a articulação entre as lutas do movimento sindical e as lutas do movimento popular, na cidade e no campo”. Ao mesmo tempo, defenderam o “fim da CLT, com a elaboração de um Código do Trabalho que pregasse a liberdade e autonomia sindical de acordo com a Convenção 87 da OIT”. Dois anos depois, criaram a Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais (Anampos). Na oportunidade, somaram-se ao esforço de organizar uma central eclética, semissindical e popular. No plano político, assumiram a luta contra o regime militar e a estrutura sindical que viam como de origem meramente varguista.
Concomitantemente, outro polo, denominado Unidade Sindical, que existia desde 1979, englobava o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a Contag, sindicalistas moderados ou pelegos, militantes ou simpatizantes de organizações revolucionárias e até antigos interventores. Também se opunha ao regime ditatorial-militar, mas queria uma “frente democrática ampla” e a manutenção da estrutura sindical. Em 1981, os dois campos convergiram na I Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat) – Praia Grande, São Paulo, com mais de 5.000 delegados –, que elegeu a Comissão Nacional Pró-CUT, sigla referente à Central Única dos Trabalhadores que todos proclamavam apoiar. Todavia, a própria forma dessa comissão já anunciava uma divisão: indicaram-se dois presidentes, um de cada lado.
Os pontos em torno dos quais se deu a cisão, que também atingiu a esquerda e o movimento comunista, foram a estrutura sindical e o tipo de central, além de assuntos inadequados a um fórum unitário, tais como estratégia da luta antirregime, reorganização ou criação de partidos e doutrinas sociais. Em novembro, também a Unidade Sindical iniciou a construção de sua central que, ao se fundar, resgataria o nome da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT). Algumas divergências fora de lugar, exacerbadas por reclamos partidário-confessionais e sectários, impediram que todos seguissem o mesmo caminho. Com a divisão, um segmento do Movimento Pró-CUT realizou o II Conclat, em São Bernardo do Campo, São Paulo, com 5.059 delegados de 912 entidades ou agrupamentos, fundando a Central Única dos Trabalhadores (CUT) em agosto de 1983.
A nova entidade geral, disposta a combater pelas reivindicações proletárias e camponesas contra os interesses do capital e do latifúndio, manteve a palavra “única” em sua sigla, mas abdicou da unicidade que seria consagrada na Constituinte. Assim, os dissensos especificamente sindicais foram se aprofundando e adquirindo uma feição irretratável, pois os lados se aferraram em suas doutrinas e cada qual articulou seu próprio lugar. Percebendo o clima de cisões e o mosaico de nichos – em que nem sequer faltou a conciliação entre classes –, o patronato, o Estado e os sucessivos governos federais teceram uma legalização pluralista capaz de acolher as várias centrais, reforçando e legitimando assim os pleitos confessionais e partidarizados, com apoio tácito ou expresso de todas.
Não foi um raio no céu azul. A história do movimento sindical brasileiro é pontilhada de tendências liberal-pluralistas, que só foram contrarrestadas pela necessidade objetiva e pela vontade política de unidade, que se gestavam no caráter social do trabalho imanente à produção industrial capitalista, que se faziam tanto mais prementes nas conjunturas de agruras e que se impunham em momentos de ampla participação de massas. Hoje, nos seus aspectos fundamentais, a unicidade ainda se encontra mantida nos sindicatos de base e nas instâncias federativas e confederativas, ainda que sob os ataques frequentes das forças e agrupamentos interessados em fragmentá-los, especialmente o patronato. No entanto, foi rompida na esfera das centrais.
Em 2008, a Lei nº 11.648 sancionou a fragmentação por cima. Coroavam-se, em parte, os esforços da Comissão de Modernização das Relações de Trabalho, no Governo Collor, da Comissão de Notáveis, no Governo Fernando Henrique, e do tripartite Fórum Nacional do Trabalho, no Governo Lula, cujas posições foram aprofundadas pela PEC nº 369, de 2005. Todavia, seus efeitos nos sindicatos de base acabaram contidos pela resistência das confederações e outras entidades que, no Fórum Sindical dos Trabalhadores, conseguiram salvar da revogação sumária o artigo 8º da Constituição Federal (CF) e barrar a Medida Provisória nº 294, de 2006, que desejava criar o Conselho Nacional de Relações de Trabalho em âmbito ministerial, com poderes anticonstitucionais.
Houve também influências externas. Se, no início dos novecentos, a presença internacional surgia tão somente como caldeamento ideológico-doutrinário, 50 anos depois passou a se manifestar em operações pragmáticas, direcionadas à cooptação e ao financiamento de instituições ou agrupamentos com alguma disponibilidade, visando a integrá-los em campanhas da direita externa e interna. Exemplo desse assédio aconteceu durante a preparação e o apoio ao golpe de 1964, envolvendo organizações estadunidenses. No século XXI, os herdeiros e as derivações do gomperismo, irradiados pela AFL, sempre em conluio com o capital, vêm fortalecendo posturas imediatistas, direcionadas à manutenção de aparelhos e à obtenção de resultados exclusivamente econômicos.
Nessa perspectiva, têm cumprido um papel político essencial na ordem burguesa, na medida em que procuram transformar os quadros sindicais em gerentes administrativos que adquirem orientação anticomunista e confundem os seus interesses próprios com aqueles das entidades. As relações espúrias estabelecidas pelo sindicalismo estadunidense no Brasil, em estreita colaboração com partidos e políticos conservadores ou social-liberais, geraram institutos e agências especializados em organizar intercâmbios, cooptar dirigentes, recolher informações, determinar posições, difundir procedimentos e interferir nas contendas práticas. Várias centrais brasileiras optaram por se integrar à tradição e à rede sindical da Ciol’s.
A despeito da insistência pluralista, o arcabouço legal e os direitos sindicais ainda se encontram em disputa. No entanto, a luta pela unidade e pela unicidade enfrenta dificuldades. A ebulição política dos anos 1980, com suas expectativas contrarreformistas, resultaram na primazia do projeto ultraliberal nos noventa e no reforço às ilusões politicistas em setores da esquerda. A crise do movimento sindical, inclusive o esfacelamento nas representações por cima e a miséria confessional, encontraram terreno propício nas mudanças do processo produtivo, que provocaram impactos no mundo do trabalho e na organização sindical, constrangendo frações do proletariado ao pactualismo e ao liberalismo, afinal “naturalizados”. Resistir à reação antissindical e passar à contraofensiva, eis a tarefa.