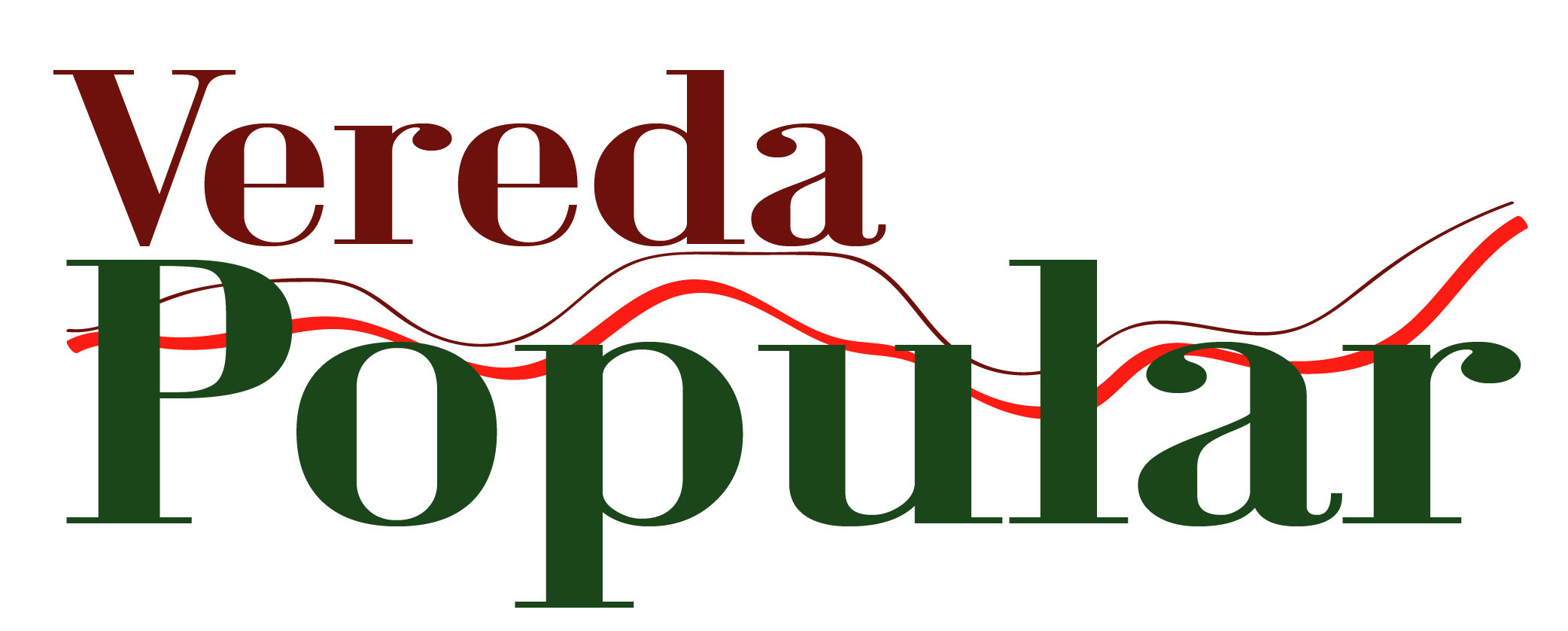Por Ronald Rocha*—
“O Pomo está maduro, colhe-o já”.
Maria Leopoldina, Carta a Pedro.
“Ressoavam sombras tristes
Da cruel guerra civil”.
Pedro I e Evaristo da Veiga, Hino da Independência.
“[…] Somos mulatos, híbridos e mamelucos
E muito mais cafuzos do que tudo o mais
O português é um negro dentre as eurolinguas
Superaremos câimbras, furúnculos, ínguas […]
Católicos de Axé e neopentecostais
Nação grande demais para que alguém engula […]”.
Caetano Veloso, Meu Coco.
Os gatunos da história pátria
A direita ultraconservadora tenta se apossar da programação referente ao Bicentenário da Independência. Bolsonaro vem especulando com a carga simbólica das comemorações, para fins eleitoreiros. Em 2019 a demagogia verde-amarelista procurou esconder sua própria submissão à Casa Branca de Trump e chamou seus apoiadores às ruas. Imputando aos desafetos a intenção de acabar com a “liberdade”, declarou que os jogaria na “ponta da praia”, tripudiando sobre os corpos assassinados e desovados pelo regime ditatorial-militar. No ano seguinte, com Pandemia e sem Parada convencional, reuniu fanáticos no jardim palaciano, violando normas sanitárias e gabando-se pelo negacionismo.
Em 2021, no mesmo feriado, após o debute ao estilo antiestablishment – contestando não a exploração capitalista e o jugo imperialista, mas o regime democrático e as suas instituições – o chefete falangista procurou executar um autogolpe. Sentia-se pressionado pela crise na economia e perdia o apoio popular. Sua manobra consistiu em dirigir os ataques ao STF, ao Congresso, ao voto eletrônico e aos democratas – estampados em faixas e cartazes preparados por meio de reuniões nas dependências oficiais – para convergi-los ao pedido expresso de intervenção castrense. Na véspera, sua horda quase invadiu a sede funcional da Suprema Corte. Revelou-se a grave crise político-institucional.
Para lembrar Garcia Marques, foi um episódio mais do que anunciado. Em agosto, após a costumeira provocação anticomunista, recheada com ataques a prefeitos e governadores, já fizera o seu pregão putschista para um grupo de religiosos evangélicos: “Temos um presidente que não deseja e não provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida; não podemos continuar com isso”. Na sequência, desatou a escatologia: “Tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza: a primeira alternativa […] não existe”. Ao rematar, chamou de “idiota” quem preferisse adquirir feijão, vociferando: “se não quer comprar fuzil não enche o saco de quem quer”.
Agora repete a cantilena e monta o seu palanque. No afã de instrumentalizar o Dia da Pátria, chamou seus acólitos para “uma demonstração pública de que grande parte da população apoia certo candidato”. Para os embaixadores, em 18/7/2022, repetiu seu ataque ao sistema de apuração e a membros do STF, assim como ao TSE, ultrapassando a competência presidencial e desrespeitando a Nação. Em nome, impróprio, de si, do Governo Central e da Polícia Federal, bradou que o pleito será fraudado e que, se derrotado, rejeitará o resultado. Na convocação para o dia sete, que se dirigia também, indevidamente, a policiais e militares no trabalho ativo, redisse os seus insultos na mesma tonalidade.
Na Convenção Nacional do PL, 24/7/2022, conclamou seus apoiadores a lotarem as ruas “pela última vez” na festa inaugural do País. Aproveitou para remirar no STF, detratando seus membros como alguns “poucos surdos de capa preta”, e o candidato Lula, soltando impropérios com palavras chulas – “ex-presidiário” e “bandido”. Repetiu as ruminações conspiratórias sobre os seus assuntos preferidos, como a negação da Covid-19 e da urna eletrônica. Seis dias depois, na Convenção feita pelo Republicanos de São Paulo, anunciou possessivamente o aparelhamento: à revelia e por cima dos governadores, avisou que o desfile militar será em Copacabana, com “nossas” forças ”irmãs” e “auxiliares”.
Só faltou jurar sobre o coração de Pedro I na sede presidencial. Todavia, com as patranhas sobre a “democracia” e a “liberdade” já em ruína, expôs a grande aporia de seu discurso. Como conciliar o envoltório cromático do seu protofascismo com a substância entreguista praticada e tantas vezes verbalizada por “seu” Governo Central? Como convencer os brasileiros de que a passagem da Eletrobras para conglomerados privados, assim como a faina cotidiana de luto para o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobrás – conspirando para dá-los aos magnatas monopolista-financeiros, principalmente aos controladores do exterior – seria compatível com a sensibilidade nacional-popular?
Eis porque os milicianos desafinam quando remetem às cores no “pendão de minha terra / Que a brisa do Brasil beija e balança”. Castro Alves, na contramão do viralatismo, reclamava na íntima segunda pessoa: “Tu que, da liberdade após a guerra, / Foste hasteado dos heróis na lança / Antes te houvessem roto na batalha, / Que servires a um povo de mortalha!”. Fica patente que a Nação presencia um tour de force demagógico. Para manter-se, porém, a desfaçatez precisa de algo bem mais palpável: tem que recorrer ao irracionalismo e justificar sua marcha errática. Visando a “resolver” o busílis, descreve a libertação anticolonial como seu evento cativo e agiganta o traço aristocrático de Pedro.
Ademais, transforma o passado em referência para o futuro, como se a história fosse o eterno retorno à idade “áurea” que as revoluções plebeias teriam suprimido. Note-se uma regressão parecida nos três precursores do fascismo atual, em que o romantismo reacionário flerta com formas semiclássicas – um pós-modernismo avant la lettre. Na Itália, mesmo com apreço ao futurismo, insistia-se na recuperação da Roma Imperial e suas glórias. No Japão, evocava-se a moral samurai, apossada pela ideologia ultranacionalista Showa desde o período Meiji. No caso alemão, buscava-se raiz na mitologia nórdica e no Império Carolíngeo, além de alimentar uma grotesca fantasia quanto à tal matriz “ariana”.
O romance plagia o moço do Ipiranga
No Brasil, o romantismo se instalou somente após a Independência e no ambiente abolicionista. Derramaram-se na cultura nacional o processo planetário da moderna sociedade civil e as profundas mudanças revolucionárias dirigidas pelo capital na Europa. Do precursor Gonçalves de Magalhães, nos Suspiros poéticos, 1836, com seu olhar nacionalista, indo até Bernardo Guimarães, de A escrava Isaura, 1875, com seu abolicionismo, ambos debruçados na realidade brasileira e indígena, tricotava-se a malha ideológico-sensível que moldou a narrativa sobre a secessão. A corrente oficialesca, fiel à tradição realenga, viu no insubmisso e jovem Regente o “espírito do mundo a cavalo”, à la Hegel.
O Zeitgeist, a dominante alma de um tempo, adentra na historiografia local e cria o demiurgo. A noção wagneriana de Gesamtkunstwerk – “obra de arte integral”, de 1849-1852 e calcada em O anel dos Nibelungen – intercorreu nos demais domínios, inclusive na pintura de Pedro Américo, por influência direta, pela personalidade polímata ou pelo ambiente intercomunicante. A visão gloriosa do passado reverberou valores do mecenas: O Grito do Ipiranga, encomendado pela Comissão do Monumento do Ipiranga, foi exposto no Museu Paulista por Taunay. Contrariamente ao solipsismo de Nietzche – “Não há fatos, só interpretações” –, a tela registra o real; porém, o faz por meio do ângulo canônico.
Tal versão, mas hiperbolizada, hoje ostenta o símbolo imperial em manifestações da extrema-direita, para êxtase da fração reacionária dos Bragança, em busca de uma restauração monárquica imbricada no desejado regime ditatorial-fascista. Segue o Mussolini de 1925 que, apoiado na burguesia imperialista italiana e por Vitor Emanuel III, concentrou no Partido Nacional Fascista o aparato estatal. Convivem, assim – no mosaico do autocratismo, do lesa-patrismo, do hiperliberalismo, do arrivismo e do anticomunismo – as súcias da retrocessão. No Império, a classe dominante precisou do instituidor sublimado. Agora, os falsários da realeza e da escravidão como era “imaculada” babam pelo “Mito”.
Usando cores vivas, roupas impecáveis, fisionomias dramáticas e gestos solenes, ao estilo de Vernet ou Meissonier, o pintor “melhorou” a “bela besta baia” de Pedro, vista pelo Padre Belchior. Para o Coronel Marcondes, a “baia gateada”. Surgia o corcel castanho. Com a subjetividade na pele, largava o neoclássico Debret ao achar o guapo alazão “condizente” à cena ufanista, em vez de um tropeiro a comer carne seca e farinha: “Um quadro histórico deve, como síntese, ser baseado na verdade e reproduzir as faces essenciais do fato, e, como análise, em […] raciocínios derivados, a um tempo da ponderação das circunstâncias verossímeis […], e do conhecimento das […] convenções da arte.”
Registre-se que as características pessoais de Pedro eram compatíveis à leitura poética e rebatem a delação de impropriedade autoral como se fosse uma simples mentira. O arquétipo do herói romântico contém a excepcionalidade nas circunstâncias únicas internalizadas, o concreto individual reconstruído idealmente, o livre-arbítrio intelectual, o destino insolúvel do conflito com a externalidade, a percepção abstrata sobre os decursos temporais e o clima de mistério. Incorpora, também, traços que o distinguem no senso comum, sugerindo alegorias dramáticas ou celebrações por motivos singulares, como altruísmo, engenhosidade, coragem, sensibilidade, arte, beleza, talento, libido e até solidão.
Semelhante perfil se traduz na injúria de um deputado português – Xavier Monteiro, 1922 – referindo-se àquele “mancebo […] arrebatado pelo amor da novidade e por um insaciável desejo de figurar”. Eis o rebelde que, após abdicação forçada em 1831, recrutou as tropas em Paris, ocupou as ruas do Porto, resistiu ao cerco, pegou tuberculose na ronda gelada, passou à ofensiva e, aliado aos detratores para vencer a contenda “liberal”, triunfalmente penetrou em Lisboa. Era 1833. No ano seguinte, com a capitulação do irmão absolutista na vila Évora Monte, restaurou a Constituição e foi coroado Pedro IV. Morreu aos 35 anos, integrado ao manancial revolucionário que desaguou na República de 1910.
Nenhum artista imaginou as três últimas vontades ordenadas pelo guerreiro moribundo, plenas de significado profano. Primeira, enlaçar o pescoço de um soldado e lhe pedir para transmitir aos “camaradas este abraço em sinal de justa saudade […] e do apreço em que sempre tive seus relevantes serviços”. Depois, ser enterrado sem protocolos reais e de forma despojada, em simples caixão de madeira. Por fim, ter o coração depositado no Porto, Igreja da Lapa, em homenagem ao povo que resistiu no momento mais duro da guerra civil. A sua vida suplantou as passagens mais extraordinárias e fecundas nas páginas de Byron, Dumas, Goethe, Herculano, Hugo, Manzoni, Poe, Pushkin e Scott.
A pessoa concreta se distanciou dos heróis na epopeia clássica – os exemplos de Odisseu e Aquiles, da lenda precedente – que para Lukács, em O Romance Histórico, sintetizaram o “ápice sinóptico”. Ao contrário, Pedro igualou-se à tessitura “prosaica” do scottiano drama humano. A sua “personalidade” representou a tendência “que abrange boa parte da nação”. A “sua paixão pessoal” mesclou-se à “grande corrente histórica”, expressão “em si” de “aspirações populares, tanto para o bem como para o mal”. Todavia, “sua tarefa de mediar os extremos, cuja luta” exprime “uma grande crise na sociedade” e na “vida histórica”, ligou “dois lados do conflito“ e gerou discórdias: 1822, 1824, 1831 e 1834.
O processo político às vésperas
Importa que a fábula fundacional, cheia do personalismo como concepção e método para se apropriar da história, põe na volição do Príncipe-Regente a causa determinante na cisão com a Metrópole, quando muito aconselhado pelo pai zeloso – “antes seja para ti, que hás de me respeitar, do que para algum aventureiro” – e pelo “Patriarca da Independência”. O trajeto e a figura singulares do adolescente, como sujeito, foram vertidos no deus Enquiurgo do cisma político. Parece um caso emblemático: a fusão e interseção do ator real – decerto marcado pela influência do romantismo europeu, que povoou as mentalidades no tempo de sua mocidade inquieta – com a reputação do personagem póstero.
Hoje, porém, ficou mais danosa e grave a manipulação do Bicentenário pelo bolsonarismo, que transformou em nostalgia reacionária o antigo enfoque afidalgado. A crítica desse procedimento precisa dar-se no plano da política, mas também apresentar fundamentos histórico-sociais. Passou a hora de se recolocarem as questões nacionais, restaurando a feição particular e o sentido geral da luta anticolonial, com as suas conquistas. Ou seja, de captá-los como evento singular de uma longa trajetória, via específica da revolução democrático-burguesa no Leste-Pindorama, entendida como a predominância do modo produtivo capitalista na sociedade civil e da sua correlata classe dominante no Estado.
Sublinhe-se: a busca da essência considera, obviamente, o papel dos indivíduos e das políticas nos grandes feitos e transformações. Quando D. João VI voltou para Lisboa em 1821, por exigência das Cortes então comandantes no processo revolucionário em Portugal com epicentro no Porto, fica o Primogênito com algumas competências e autonomias muito incomuns. As prerrogativas logo se mostrariam incompatíveis com a condição colonial tida como padrão em Lisboa, mas correspondentes aos interesses das classes ou frações de classe constituídas internamente ou “abrasileiradas” e fortalecidas socioeconomicamente pelas situações criadas no lapso institucional do “Reino Unido” – 1815.
Terminara de se consolidar, nos primeiros vinte anos do século XIX, uma classe dominante local, formada pela oligarquia escravista e pelo grupo mercantil relacionado ao mercado interno, assim como pelo setor senhorial-cortesão e pela burocracia estatal mais ligada aos governos, central e provinciais. A contradição entre os dois polos, que apesar das querelas regionais tinha cunho antagônico, tornou-se a principal. Quando a Metrópole resolveu cassar os laivos de autonomia – porém, consolidados – exigindo que a sociedade política voltasse à subserviência total e se chocando com as ilusões igualitaristas, ou de paridade, incitou a crise institucional insolúvel nas divisas da estrutura colonial vigente.
Basta lembrar os ditados mais drásticos. Entre abril e setembro de 1821, as Cortes decretaram que a Colônia se dividiria em províncias governadas por juntas provisórias diretamente obedientes a Lisboa, sobre as quais o Rio de Janeiro nada comandaria. Que os tribunais de justiça e outras instituições públicas, organizadas nos tempos da nobreza lusitana desterrada, seriam eliminados. Que o antigo monopólio português sobre o comércio exterior voltaria. Que uma junta nomeada e de confiança ultramarina substituiria o Governo Regencial. Que o Titular devia retornar de pronto à Metrópole. Objetivamente, apertava-se o arrocho nos antigos vínculos. Subjetivamente, retornava-se à condição anterior.
A resistência protobrasileira uniu as correntes mais díspares da sociedade política interna: os conservadores nacionalistas, os liberais radicalizados, a oposição republicana e os adversários da escravidão. Ainda englobou as maiorias populares – os cativos, funcionários subalternos, pequeno-burgueses urbanos e demais homens livres na ordem social escravocrata, inclusive soldados e marinheiros – que outro parlamentar lusitano, José Joaquim de Moura, no conturbado 1822, pejorativamente chamou de “negros, mulatos, crioulos e europeus de diferentes caracteres”. A capital, então com 120 mil habitantes, fez abaixo-assinado com cerca de oito mil partidários e, sem demora, recorreu à insurreição.
Quando as tropas lusitanas tomaram o Morro do Castelo, 10 mil populares se aglomeraram no Largo de Santana, em armas, de mosquetes a porretes. Na defensiva, o contingente se retirou para Niterói. Um reforço com 1.200 infantes ancorou na Baía da Guanabara, mas só desembarcou após curvar-se ao Regente. No clima radical, Pedro se pronunciou em 8/1/1822. Foi o “Dia do Fico”. Informou, então, a sua decisão de permanecer no Rio com a função regencial intacta, utilizando sintomaticamente as noções-chaves de “Nação” e “Povo”. As “petulâncias” prosseguiram: o “Cumpra-se” para validação obrigatória de ordens portuguesas, em maio; a convocação da Constituinte, no mês seguinte.
Abriu-se a brecha. Lênin frisou, em A Falência da II Internacional, que a categoria de situação revolucionária se aplica “em todas as épocas de revoluções no Ocidente”. No Brasil de 1822, as maiorias se recusavam a viver como antes, os “de cima” não podiam manter sua dominação idêntica, surgiam fissuras para os descontentes adentrarem, agravavam-se as privações dos subalternos e as massas foram impelidas para um ato autárquico em face do poder metropolitano. As pessoas mais conscientes o percebiam claramente. José Bonifácio, em missiva para Pedro, afirmou: “Senhor, o dado está lançado”. Maria Leopoldina completou: “O Pomo está maduro, colhe-o já”. Era setembro, dia sete.
Os eventos vincantes na Independência
O contencioso político-social instalado e as metamorfoses acontecidas careciam de condições – objetivas e subjetivas – para irem além. Mas se revelaram suficientemente vigorosos para criar um Exército próprio no fogo do combate, constituir a Marinha brasileira no Atlântico saturado por embarcações hostis, cumprir a guerra de libertação, romper com a dependência colonial, barrar o monopólio comercial português, deter a sangria das riquezas que se derramavam para fora, fundar o novo País e criar o Estado nacional. De modo nenhum são coisas poucas ou pequenas, que se possam desdenhar ou negar. Eis porque, sem dúvida, o Bicentenário relembra um acontecimento progressista e avançado.
O sétimo dia, em setembro, consolidou-se na história por caminhos sinuosos e multifacetados, malgrado as espécies de revisionismo que o tentam rebaixar ou até impugnar como data que traduz a Independência Nacional e a transformação do Estado, antes sucursal do aparato exógeno, em órgão político do País emergente. Marca o feito proclamatório na margem do Riacho Ipiranga. O aniversário pátrio poderia também se ancorar em 29/8/1821, quando estalou a rebelião contra o Governo Colonial de Pernambuco, algoz do levante republicano quatro anos antes, ou em 5/10/1821, cerca de um mês depois, quando as tropas lusitanas, derrotadas militarmente, capitularam pela Convenção de Beberibe.
Outra opção teria sido a continuidade baiana da guerra, em 19/2/1822. Todavia, o enfoque narrativo privilegiou, com bons motivos, a crise instalada no Rio de Janeiro, com reflexo imediato em Minas Gerais e São Paulo. Em plena conflagração a nordeste, Pedro viajou a Vila Rica, por cavalgada frenética, visando a dissuadir o pendor pró-metrópole. Ali centralizou as tropas e classes dominantes locais. Também alterou a composição governamental. Voltando em abril, acolheu a designação como “defensor perpétuo e protetor do Brasil”. Note-se que o nome do País já ignorava o qualificativo de colonial. Na sequência, vieram os notáveis libelos ruptivos, assessorados por Gonçalves Ledo e José Bonifácio.
No início de agosto, Pedro lançou a missiva pública, informando que se dera “o grande passo para vossa independência” e que “já sois um povo soberano.” Ato contínuo assinou, dia seis, a carta Sobre as relações políticas e comerciais com os governos e nações amigas, comunicando “à face do Universo a […] Independência política” como “vontade geral do Brasil”. Fundamentando-a, denunciou: “Quando se apresentara […] esta […] região Brasílica aos olhos do venturoso Cabral, logo a avareza e o proselitismo religioso […] se apoderaram dela por meio da conquista.” Citando a revolta republicana de 1789, disse: “o Estado português” vergava “Minas sob o peso […] dos tributos e da decapitação”.
A seguir se dirigiu a São Paulo. Em Santos, vistoriou as defesas litorâneas e presto retornou à sede provincial para dirimir as desavenças. Durante a viagem, considerando as ordens intoleráveis do Governo Português, além de seguro sobre a unidade garantida no centro administrativo da Colônia, bem como de que ficara mais difícil uma reação repressiva capaz de atrair operações militares ao sudeste, consolidou publicamente a fratura por cima. Tinha somente 23 anos. Chegando à Cidade no topo do Planalto, já na condição de monarca na direção do novo país, notou que a notícia tornara os desentendimentos paroquiais um conflito interno secundário. Sem tardança, voltou confiante à ebulição carioca.
Pari passu às protocolares aclamação e coroação de Pedro I, em outubro e dezembro, a luta política entre as classes ou frações assumiu a forma de guerra libertadora e se alastrou pelo território todo. Além dos inúmeros choques acessórios Nação afora – Piauí, Ceará, Sergipe, Alagoas – o conflito bélico, já decidido em Pernambuco, prosseguiu de norte a sul, notadamente no Pará, no Maranhão, na Bahia e na Cisplatina, dilatando-se até 1825, por quatro anos. Após duras negociações, a Independência foi reconhecida pelo contendor, embora em um tratado leonino. A magna vitória lega o marco fundante para o Exército e a Marinha nacionais, vez que no conflito anti-holandês o Brasil ainda inexistia.
O enfrentamento possuía corolários culturais. O Hino da Independência, com a letra lavrada por Evaristo da Veiga em agosto, sob a titulação de Hino Constitucional Brasileiro, recebeu a melodia e o arranjo românticos do Imperador-Musicista no mês seguinte. A cena foi glamorizada em tela de Bracet. O patriotismo inspirava cidadãos a trocarem o sobrenome por vocábulos gês ou tupis. Entrementes, nos campos de batalha, os insurretos somavam quase 30 mil conscritos – superiores às tropas das contemporâneas beligerâncias contra o jugo espanhol – e 90 navios, quantidades consideráveis para o País, com somente quatro milhões de habitantes. Calcula-se algo próximo a três milhares de mortos.
Comumente, valoriza-se muito a monumental e influente Guerra de Independência Americana, em 1776-1783 – inaugurada com a Resolução de Suffolck, o Congresso Continental e a declaração autônoma de Virgínia –, que sucedeu a Revolução Gloriosa, na Inglaterra de 1688, e precedeu as Revoluções da França e de São Domingos, em 1789 e 1791. Denominada “Primeira Revolução” pelos estudiosos e o povo estadunidenses, desatou historicamente o processo encerrado na “Segunda”, sob a forma da Guerra Civil Antiescravagista em 1861-1865, saudada por Marx. O conflito brasileiro foi por igual engajador e brutal, considerando-se as diferenças no respeitante à demografia e à durabilidade.
O alicerce ontossocial de 1822
A postura das classes dominantes internas, os anseios populares, o nacionalismo romântico, as providências individuais e as intervenções do “partido” brasileiro foram preparados por três séculos. Engels observara – Carta a Bloch, 1890 – que muitos simplificavam demasiadamente a “tese” do amigo, como se “o fator econômico” explicasse tudo. Rejeitara qualquer tergiversação que a tornasse “uma frase vazia, abstrata, absurda”, bem como frisara que a determinação em “última instância” reside na “produção e reprodução da vida real”. Para colher o caráter, o conteúdo e o sentido embutidos na práxis dos colonizados – “grande corrente histórica” –, é preciso tocar nos seus fundamentos sociais.
Quando, empurrado pela expansão mercantil, amparado pela espada repressora e justificado pela cruz missionária, Cabral lançou âncoras na hoje Bahia, deparou-se com populações originárias. Os verdadeiros descobridores do continente chegaram desde as datas remotas que os estudos arqueológicos, paleogenéticos e linguísticos supõem às dezenas de milênios. Embora em certos lugares tivessem hábitos semissedentários e praticassem o trabalho agrícola regular, além de constituírem urbanização e “cacicados” complexos, desconheciam o reparto social de classes, a propriedade privada e o Estado. Ao contrário de sociedades africanas e orientais, nem sequer aglomeravam excedentes.
Os colonizadores lusitanos, em vez de invadirem uma soberania preposta – como fizeram os castelhanos contra os impérios asteca e inca –, ocuparam territórios então em uso informal e passageiro. A primeira relação econômica fixada foi o escambo, recolhendo alimentos e pau-brasil em condições vantajosas, vez que as partes locais nenhuma referência tinham sobre o valor de troca na ponta europeia. Só em 1535, após uma espontânea colonização, a Metrópole tentou aplicar o seu plano racionalizado. No entanto, as Capitanias Hereditárias fracassaram, porque inspiradas na idealista suposição de que seria possível repetir as relações de produção feudais, sem domínio e adstrições camponesas.
Em lugar das sesmarias, formalizadas em documentos forais, o projeto que na prática vigorou – articuladamente ao posterior Governo-Geral, uma extensão burocrático-local do Estado português – foi o regresso moderno ao cativeiro antigo, reciclado na forma da escravidão. Mercantil é uma qualificação mais precisa do que a “colonial”, proposta por Gorender, pois mantida 66 anos após a Independência. Durante os 100 anos iniciais, predominou a escravização de indígenas, passando “carijó” a significante metonímico de cativo. Só no século XVII o tráfico negreiro superou as capturas locais, exceto em regiões como a central mineira, onde a passagem se completou no primeiro quartel setecentista.
Com as superlativas confiscação e concentração dos valores produzidos pelo trabalho da “escravaria” – incluindo mestiços de características biológicas ou somáticas diversas – bem como, acessoriamente, realizados por indivíduos livres nas ordenações oligárquicas, os sucessivos ciclos econômicos aumentaram rapidamente a população, a força laboral, o transporte, a oferta, o consumo, enfim, a circulação comercial de bens. O resultado acabou sendo a formação, no território demarcado pelo domínio colonial, de um mercado interno relativamente integrado. Ao mesmo tempo, alargaram-se a urbanização, a fronteira oeste, a simbiose psicossocial, o caldeamento étnico e o sincretismo religioso.
No século XVIII se afirma uma cultura comum, inclusive o idioma português com acento próprio e milhares de palavras novas, bem como as singularidades musicais dos lundus, modinhas e peças eruditas. O decurso acentuou-se com a transferência da Corte. Sincronicamente, formou-se uma estrutura interna de classes, com interesses próprios nas questões particulares de cada segmento e no antagonismo à colonização. A maturidade ultrapassava em sentido as rebeliões dos aquilombados – como Palmares, os espinhos cravados no modo produtivo hegemônico – e materializava, claramente, um salto qualitativo vis-à-vis os levantes nativistas, que apenas se nutriam das contradições locais.
Naquelas condições, os conflitos pontilhados sob a hegemonia da Metrópole, assim como, posteriormente, a consciente perspectiva e a crescente ação política visando à Independência, amiúde amálgamada com as ideias republicanas e abolicionistas, vão se consubstanciando na “Terra de Vera Cruz” e se incorporando aos elementos necessários e basilares da nacionalidade. A compressão perpetuada pela potência ultramarina e salientada pelo metabolismo capitalista em desenvolvimento mundial, encaixou a barragem crescente aos lucros e à progressão das forças produtivas, internamente, além de afetar os interesses irrecorríveis da grande maioria, tolhendo a reprodução ampla da vida social.
O impasse da colonização incubou crises institucionais, tensões autonomistas, movimentos republicanos e agitações populares. Os levantes nos “de cima” e “de baixo” – na fase nacional, frequentemente somados – ilustram-se na resistência dos cativos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Rebelião Pernambucana e, por fim, Guerra de Independência cuja vitória garantiu a unidade territorial. Os dirigentes políticos e militares na insurgência de 1822 aglutinaram classes distintas e suas frações, monarquistas e republicanos, escravagistas e abolicionistas, católicos e maçons, brasileiros – com a herança dos antepassados europeus, africanos, indígenas ou mesclados – e lusitanos dissidentes.
O sentido histórico da Independência
O cisma de 1822 catalisou a configuração do povo brasileiro e compôs um fascículo da revolução burguesa. Ultrapassou a contradição entre o desenvolvimento nas forças produtivas e a cadeia exógena, mas ficou nos prolegômenos da mudança 26 anos depois grafada no Manifesto Comunista: “A burguesia […] compele todas as nações, sob a pena de perecerem, a incorporar o modo capitalista de produção, e as constrange a introduzir […] a chamada civilização […]. Em suma, cria um mundo à sua imagem.” Aqui, a formação econômico-social e a produção careciam do patronato industrial para comandar e do proletariado para ser força motriz, similarmente ao teto posto à Revolução Nacional de Avis.
O “capital” intestino, “antediluviano”, apenas impregnara o patamar da circulação, exceto em parcos embriões citadinos. Só depois é que as relações caracteristicamente capitalistas adquiririam significado político-prático. Ao contrário da Inglaterra, da França e dos EUA, onde o novo modo produtivo se impôs mais cedo, aqui o fez tardiamente. Assim, ficam desautorizados certos clichês: o “circulacionismo”, que supõe a prevalência do capital moderno desde a missa cabralina, operando pela mera evolução econômica; o suposto “feudalismo” prévio, cujos resquícios teriam persistido até o alvorecer do século XX; a quimérica “estrutura” cultural onipotente, só tributária e regida pelas relações anteriores.
Ademais, anima uma tríplice conclusão. A Independência é o primeiro capítulo exitoso de uma vasta e tumultuada marcha, o sinal da borrasca chegante. A inconclusividade na revolução burguesa talha sua própria continuidade sob a forma de rebeliões republicanas e antiescravistas, não raro com rasgo separatista e sempre com participação popular: Confederação do Equador; Cabanagem; Malês; Farroupilha; Sabinada; Balaiada; Praieira. O trânsito à nova sociedade passa pelo ato abolicionista e a proclamação republicana, completando-se no declínio da oligarquia rural-rentista e na hegemonia do capital, movidos pela convulsão no final do século XIX e albor novecentista, até a Revolução de 1930.
Nas ausências de um percurso conciso e de um evento fundante – nacional, único, radical e plebeu – a hegemonia do capital no Brasil, por completar-se tão somente na etapa dos conglomerados monopolista-financeiros externos, manteve inúmeras tradições conservadoras: dependência econômica aos centros imperialistas, estrutura latifundiária no campo, traços autocráticos no regime político, rechaço à elaboração teórica, discriminação ao trabalho produtivo e preconceitos com vários feitios. Lançando mão da categoria gramsciana fixada no Quaderni, aparenta uma “revolução passiva” ou “revolução sem revolução”, em que o substantivo domina inconteste o conceito, mas se abre à qualificação.
Trata-se de uma transmutação integral, imune a evasivas e também a tipos ideais weberianos. A revolução democrático-burguesa no Brasil, que durou quase 250 anos – conservando a escravidão e a monarquia no primeiro século – cumpriu na Independência o seu necessário preâmbulo. Para controlar o poder na esfera político-administrativa, o senhorio escravocrata e o grupo mercantil endógeno, com aliados, precisaram expressar parcialmente o interesse popular na emergente Nação para criar o seu Estado e manter o território, mas sem romper o tecido que provia o direito proprietário sobre os seres humanos e os títulos nobiliárquicos, mesmo tendo que mudá-los aos poucos, sob as pressões.
Portanto, as forças populares devem associar-se às comemorações do Bicentenário, sem vacilação, disputando a razão e o coração dos brasileiros como conjunto. Para tanto, é mister contestar os postulados equivocados sobre a Independência, mesmo de setores à esquerda. Chamá-la de mero conluio intradinástico e das “elites” contra os ditos “excluídos” equivale a ignorar o complexo de fatos: a luta entre classes ou frações, as políticas e os resultados. Rechaçá-la por manter a escravidão é o mesmo que repelir a Independência Norte-Americana e a Inconfidência Mineira por motivo idêntico, além das revoluções burguesas na Inglaterra, França e Portugal por cativeiros posteriores nas colônias.
Desprezá-la por suster a monarquia representa suprimir, também, o primado burguês nos 12 países da Europa que a conservam, entre os quais a teocracia papal. Taxá-la de “incompleta” – como se persistisse a condição colonial, mesmo quando enfeitada pelo prefixo “neo” – seria ignorar que a dependência de hoje, ao imperialismo, apenas se configurou no início do século XX. Falar que o “Bicentenário” seria “do Brasil”, não do êxito alcançado há 200 anos, e ver a nação ainda colonizada como se já fosse a Pátria com seu Estado e seu território, significaria repetir o mesmo erro dos festejos aos “500 Anos de Brasil”, ao confundir a colonização aberta em 1500 com a instituição do País em 1822.
Por fim, os marxistas se distinguem do idealismo, que se compraz em criticar os fatos pertencentes à história concreta e transata, chicoteando as lutas reais dos sujeitos vinculados à práxis pregressa e alimentando a conjectura metafísica de que os antecessores seriam traidores do “imperativo moral” kantiano, porque “despreveniram” os atuais pesares. Para o proletariado e o Bloco Histórico, o Bicentenário da Independência exige, além das batalhas democráticas na conjuntura vigente, lembrar e fortalecer o combate anti-imperialista, em defesa da soberania, das riquezas e do imenso território brasileiros, assim como a valorização da cultura nacional-popular e os anseios específicos das massas.
*Ronald Rocha é sociólogo, ensaísta e autor, entre outros livros, do recente “Anatomia de um credo (o capital financeiro e o progressismo da produção)”.
Os artigos assinados não expressam, necessariamente, a opinião de Vereda Popular, estando sob a responsabilidade integral dos autores.