Por Ronald Rocha—
O argumento da genética molecular contemporânea é reforçado na Declaração de Jena, firmada em 2019 por biólogos alemães. Releve-se a derrapagem no problema nuclear da filosofia – o ser precede a consciência –, vez que o texto atribui o conceito à doutrina e ambos a um suposto papel demiúrgico do racismo. Camufla, pois, a “produção e reprodução da vida real” nas condições do colonialismo e da escravidão, além do motivo pelo qual o preconceito se mantém na formação econômico-social capitalista, como traço hegemônico reciclado pelos interesses burgueses.
No momento, retenha-se apenas o fundamental, isto é: a noção de “raças” humanas foi destroçada para uso no mundo atual. Por consequência, o seu rechaço deve basear-se não em preceitos morais de justiça e solidariedade para com as pessoas “diferentes”, mas na inexistência de conteúdo capaz de validá-la, pois todo enunciado é tributário da verdade como princípio, ficando assim os imperativos axiológicos em condição derivada. Conforme célebre o comunicado, as biovariâncias dos seres humanos demonstram que:
“[…] em vez de limites definidos, os gradientes genéticos ocorrem no interior dos grupos humanos […]. Para ser explícito, não apenas inexiste um único gene que sustente as diferenças ‘raciais’, como nem mesmo há um único par de bases”.1
Para insistir no mesmo sentido, Albert Jacquard – frisando a síntese de François Jacob – redigiu, no ano de 1996, o libelo de 600 especialistas “em nome do rigor científico”. Respondeu, assim, a Jean-Marie Le Pen – a principal figura do então Front Nacional, partido fascista reorganizado com nome de Rassemblement National –, que declarara serem “as diversas raças humanas […] desiguais e algumas melhores do que outras”. O conhecido geneticista francês retrucou, enfatizando a dimensão prática da polêmica:
“O conceito de raça pode ser definido somente no interior das espécies cujos vários grupos ficaram isolados uns de outros em tempos suficientemente longos para que o seu patrimônio genético se diferenciasse. Deduz-se que, na espécie humana, essa diferenciação é tão pouco marcada que torna o conceito de ‘raças’ humanas inoperacional.”2
Por sua vez, no ano seguinte, Alberto Piazza endossou as mesmas palavras. Participando em um dossier amplo sobre a “diversidade humana” e as suas “origens”, afirmou que os estudos científicos efetivados nas últimas décadas refutaram, inapelavelmente, a noção de “raças” como instrumento apto a exprimir as diferenças verificadas na vastíssima geografia humana contemporânea. Comparando as subdivisões anteriormente realizadas pelos critérios superficiais de aparência fenotípica, o especialista constatou que:
“[…] a variação genética é muito mais importante entre os indivíduos de uma mesma população do que entre grupos diferentes.”3
Portanto, instalou-se um largo, profundo e sólido consenso entre os biólogos e os pesquisadores das especialidades afins, em torno da seguinte conclusão: a utilização de premissas racialistas somente consegue ainda manter-se de pé com argumentos pautados em representações construídas por meio de critérios psicossociais, culturais, políticos e somáticos, sempre induzidos por volições arbitrárias de fundo ideológico e, não raro, reacionárias. Todavia, faz-se oportuno estabelecer algumas ressalvas complementares.
Primeiro, a “diferenciação é tão pouco pronunciada” hoje, pois o mesmo não se aplica para todo e qualquer homo, vez que no passado a sua condição era diferente. Outrossim, além da sua inutilidade metodológica para objetivos práticos, a noção de “raças” choca-se com a realidade posta hodiernamente. O argumento desautoriza, também, a classificação do gênero em distintas “espécies” ou “subespécies”, pois a ciência rechaça tais conceitos, vez que inaptos a exprimir a diversidade humana contemporânea.
Quer dizer: os conhecimentos contemporâneos a condena como inaplicável para compreender as diferenças físicas entre pessoas, consolidadas na última fase do Pleistoceno. Deixa, portanto, aos interessados em cacoetes baseados na taxonomia das fúteis aparências, tão somente os traços fenotípicos centrados nas características morfológicas e fisiológicas observáveis externa ou superficialmente, muitas operadas por simples ações condicionantes ambientais ao longo das vidas individuais recortadas para exame.
Com ainda mais ênfase, a genética rejeita uma subdivisão calcada em distintas espécies, a não quando manuseadas para o passado remoto que a história natural estuda. Eis porque também se revela deveras inconsistente a substituição de “raças” por “subespécies”, mera troca de nomenclatura que mantém o erro básico de conteúdo e procura ministrar mais oxigênio a uma tese que já faleceu, mas que tantos resistem a comparecer ao seu velório. Assim, a qualificação de humano assume um duplo significado.
Refere-se ao ser pertencente ao domínio Eukaryota – o mais geral dos viventes com núcleo celular, organelas e DNA relacionado a proteínas histónicas –, que por sua vez se desdobra no reino Animalia, no subrreino Eumetazoa, no filo Chordata, no subfilo Vertebrata, na classe Mammalia, na subclasse Theria, na infraclasse Eutheria, na ordem Primates, na subordem Haplorrhini, na infraordem Siimiformes, na superfamília Hominoideia, na família Hominidae, na subfamília Homininae, na tribo Hominini, na subtribo Hominina e no gênero Homo, que acolheu no passado – faltando 0,001% de seu tempo total – espécies ou raças.
Tal organismo representa, igualmente, a unicidade atualmente consolidados nos conteúdos anteriormente atribuídos a “raças” ou “espécies”, pois as ciências respeitam o evolver objetivo da história. A comunidade Homo desautoriza, pois, hoje, uma subclassificação, de vez que a heterogeneidade “racial” já desapareceu. Segundo Sérgio Pena, o rol dos “40 polimorfismos de inserção-deleção de DNA em 1.064 indivíduos de todo o globo, confirmou amplamente os resultados” exibidos por Richard Lewontin, corroborando a “inexistência de ‘raças’ humanas”:
“[…] a variabilidade entre os grupos humanos dos diferentes continentes – ou seja, as ditas ‘raças’ humanas – é muito pequena. […] 85% da diversidade alética ocorriam dentro das próprias populações, 8,3% entre as populações de uma mesma ‘raça’ e apenas 6,3% entre as chamadas ‘raças’!”4
Eis porque fracassam os procedimentos médicos baseados em preconceitos, que provocam erros nos EUA e, por ruinosa imitação, no Brasil. O biólogo Joseph Graves5 asseverou que as “categorias como ‘negro’, ‘branco’ e ‘asiático’ não representam diferenças genéticas entre os grupos”, concluindo que a ignorância sobre tal fato é o “maior equívoco racial que persiste na comunidade médica”.6 Quanto aos 657 mil casos de câncer prostático havidos no SUS, as distinções diagnósticas entre os fenótipos foram desprezíveis.7
O mesmo acontece nos desportos, quando se observam narrativas sobre as supostas superioridades ou inferioridades inerentes a certas “raças”. Tais falsidades ruem pelo simples olhar sobre as circunstâncias histórico-sociais que tangem as nações, as populações, as necessidades, as preferências e as motivações de qualquer jaez – objetivas e subjetivas; individuais e coletivas. Basta ver as mobilidades somáticas nos campeonatos e pódios, conforme as modalidades, as épocas e as condiçõess, que se combinam de modo complexo.
Considere-se o cricket, pela sua origem aristocrática. Praticado exclusivamente na Inglaterra por séculos, poder-se-ia vê-lo como a expressão “caucasiana” por excelência. Quem ganhou as 11 primeiras Copas do Mundo, porém, foram os antigos colonizados. Mas não se pense que os inventores seriam biologicamente inaptos, pois venceram em 2019. Os polinésios eram os melhores nadadores até se multiplicarem os torneios e clubes nos países ocidentais. Abundam casos parecidos nos relatos sobre as competições.
A música também tem sido superlativamente “racializada”. Mas o Blue “negro” foi a principal base no Rock inglês dos Beatles, Eric Clapton e Rolling Stones. Desde o século passado, as obras eruditas ocidentais são executadas por asiáticos em sociedades com tradição modal. Em Minas Gerais, o Barroco e o Classicismo se recriaram por filhos de cativos. No Rio de Janeiro, as sínteses do Samba e do Choro, tidas como expressões “africanas”, sincretizaram-se com influência tonal europeia. O mesmo sucedeu no idioma e na religião.
Eis como a história fundiu a esfera universal, notavelmente, à particular e à singular. Cabe agora observar os processos que transladaram o vocábulo “raças”, da biologia, para o interior da antropologia física e da etnografia, concedendo-lhe um status hipertrofiado, a ponto mesmo de animar os seus defensores a subestimarem as contradições de fundo social e até, nos casos mais extremos, a negarem a própria emergência das classes na vida social, bem como as suas contradições ou lutas nas várias dimensões.
Nada possui de casual o aparecimento e a cristalização do conceito “raças” entre os naturalistas, nos séculos XVII ou XVIII. Podem ser lembradas múltiplas ocorrências particulares. Como precedente local, difusamente perambulante no “espaço” feudal europeu, note-se a separação, frisada no discurso, entre a nobreza franca-lombarda e a plebe gaulesa, no auge do império carolíngio. A muralha do preconceito então se disfarçava nas diferenças entre os seus respectivos fenótipos e culturas, sejam supostos, sejam condicionados pelo ambiente sociogeográfico recente.
A expansão mercantil, no Mediterrâneo e no Mar do Norte, acelerou-se no século XIII. Na sequência, desdobrou-se nas grandes navegações, inclusive no Atlântico Sul. Assim, nos séculos seguintes renovou antigas relações planetárias, pondo em contato, cada vez mais íntima e aceleradamente, as populações dos vários continentes. Nesse processo, desagregou a velha noção de mundo então vigente, começou a fomentar o moderno colonialismo e desvelou de modo concreto – para os nobres, os comerciantes, os militares, os marinheiros e os cientistas – o caleidoscópio das variadas compleições humanas, bem como dos poliedros étnicos.
Aquelas circunstâncias iam além das parcas informações anteriores, inferidas no mundo circunscrito, nos contatos esparsos e nas lendas centenárias, muitas trazidas pelas informações remanescentes nas memórias clássicas. O surto moderno impelia o capital antediluviano e as outras formas precedentes a conviverem com as relações burguesas então nascentes, que impeliram o movimento ascensional. Aguçou-se a curiosidade em face dos assemelhados que reapareciam, do exotismo antes adormecido e dos conhecimentos emergentes, que se fundiu, necessariamente, à justificativa da exploração e dominação em vastas regiões.
Tal processo aconteceu também na colônia portuguesa do Leste-Pindorama, nomeada em 1.500, pelos chegantes, como a Terra de Santa Cruz. No momento em que – tangido pela expansão comercial-mercantil, sustentado pela espada coercitiva e justificado pelo crucifixo missionário – Pedro Álvares Cabral, com a sua pequena esquadra formada por apenas três caravelas e algumas naus de apoio, lançou finalmente âncoras no litoral da hoje Bahia, deparou-se com as populações originárias. Os verdadeiros descobridores do Continente haviam comparecido a esta região do Planeta e a tinham ocupado muito antes.
Aqui já estavam reproduzindo a vida social, desde as épocas remotas que, segundo a maioria dos estudos arqueológicos e genéticos, perfazem dezenas de milênios. Ainda que algumas comunidades originárias apresentassem hábitos sedentários e efetivassem trabalhos agrícolas regulares, além de constituírem urbanizações com baixa concentração e chefaturas ou cacicados complexos, desconheciam completamente o Estado, a propriedade privada e a divisão em classes. À diferença de muitas sociedades africanas e orientais, bem como daquelas construídas pelos incas, maias e astecas, nem acumulavam excedentes.
Os colonizadores lusitanos, em lugar de invadirem um domínio demarcado por fronteiras e preenchido com soberania preposta – como tiveram que fazer as tropas da Coroa espanhola para conquistarem impérios indígenas –, sobrepuseram-se a territórios então, predominantemente, usados em molde fugaz ou no máximo informal. Eis porque a primeira relação econômica fixada com as populações indígenas pelos recém-ocupantes foi o escambo, recolhendo alimentos e madeira em condições vantajosas, vez que a parte local ignorava os valores de troca nas pontas europeias.
Só em 1535, após a relativamente curta fase de colonização espontânea e somente litorânea, tentou a monarquia portuguesa efetivar um plano administrativo com maior ambição e certos rasgos de racionalidade. Mesmo assim, as famosas Capitanias Hereditárias cedo fracassaram, porque se inspiravam na idealista suposição de que seria possível repetir as relações de produção feudais sobre quaisquer outros lugares ou populações, desconsiderando-se as necessidades histórico-sociais referentes aos domínios senhoriais e à conscrição dos camponeses a terras parceladas.
Para substituir as sesmarias, ou possessões latifundiárias devidamente formalizadas em textos forais, o projeto que na prática prevaleceu – articuladamente ao posterior Governo-geral centralizado, extensão burocrático-local do Estado português – foi o retorno ao cativeiro antigo, mas reciclado como escravidão moderna. Surge um dos vetores que inflaram o processo de acumulação primitiva do capital na Europa.8 Daí porque a qualificação de “Mercantil” é, para representar o escravismo no Brasil, mais precisa do que a “Colonial”,9 pois o seu modo produtivo definidor se manteve incólume durante os 66 anos posteriores à Independência.
Olhando para o passado remoto, registre-se que, nos primeiros 150 anos da ocupação, predominaram o apressamento e o cativeiro de indígenas. Então, na região sudeste, a palavra “carijó” se converteu em jargão metonímico de origem tupi-guarani, para significar “negro da terra”. O tráfico afro-transatlântico somente superou em número e qualidade as capturas locais no meio dos anos seiscentos. Em algumas regiões de ocupação tardia, como a Central-Mineira, o processo de passagem apenas se completou dezenas de anos mais tarde, no início do século XVIII.10
Eis porque o racismo, na colônia recém-fundada pelo Estado português, dirigiu-se primeiramente aos indígenas, e só depois às “peças” d’Além Mar para cá trazidas coercitivamente. Ao contrário de residirem nas quimeras feudo-senhoriais – que, se procurassem descer ao solo da realidade primária, ficariam fora de um tempo e de um lugar –, o racialismo e o racismo encontraram na escravidão, interposta nas condições objetivas do continente americano a sudeste para produzir riquezas, o seu fundamento econômico-social necessário, concreto e determinante.
Ademais, tais expedientes foram também preparados e incubados pelos preconceitos voltados aos muçulmanos amorenados, que habitavam os territórios localizados na parte sul do Mediterrâneo e fincaram os pés na Península Ibérica por quase oito séculos, como também às populações já escravizadas nas regiões africanas subsaarianas. O comércio de humanos, guarnecido por expedições militares lusitanas, desde o início comprava “mercadorias” dos fornecedores disponíveis: ao norte, os mercadores sarracenos e, na costa oeste africana, os reinos locais.11
A substância existente na “produção e reprodução da vida real”, impulsionada e perpetuada pelos interesses intrínsecos à irreversível acumulação primitiva em marcha no “Velho Mundo”, complementada pelos despojos coloniais, concedeu ao escravismo a objetividade, a motivação e as funcionalidades necessárias para se consolidar, espargir e perpetuar também na superestrutura cultural. Relacionado à captura indígena, predominou até o meio dos seiscentos. Como dominação negreira, durou até o Ato Abolicionista exarado em 1988, no crepúsculo do século XIX.
Na transição de um a outro período, a classe dominada foi alargada por legiões de cafuzos, mamelucos e mulatos. Eram propriedades privadas por igual em boa parte, mas também se ampliavam, crescentemente, às camadas livres nos poros da velha ordem oligárquica. Os fenótipos, já estereotipados, jogaram papel relevante como justificações do modo produtivo e ainda como instrumentos consolidadores do padrão hegemônico, inclusive gerando várias outras formas singulares de preconceito, como ao trabalho físico, às liberdades universais, à cultura nacional-popular e assim por diante.
Fica evidente que, ao contrário de um caso compreensível pelo “modelo” da “materialização” hegeliana, que teria sido implantado e operado pela cultura prévia dos “brancos” – espécie original de ideia ou volição que produziria uma realidade mediante uma criação autônoma –, sucedeu algo diametralmente oposto. Foi o sociometabolismo que acolheu a tradição racialista, com sua fundamentação inicial por vezes frouxa, para incorporá-la – como traço da ideologia dominante – nas estruturas, circunstâncias e práxis coloniais das então grandes potências.
O cisma postiço da humanidade genérica em supostas “raças”, o palpite anticientífico de que a história se moveria mediante as contradições de umas contra outras e a hierarquização de suas particularidades como biologicamente superiores ou inferiores, acabaram capturando a cena cultural, o senso comum internacional e as elaborações acadêmicas mais “respeitáveis”, pari passu à política nas suas expressões governativas, diplomáticas e militares. Foi preciso, pois, dividir as populações locais para conquistar ou manter os territórios americanos, africanos, asiáticos e oceânicos.
Para sedimentar e aprofundar semelhante controle de maneira profunda e duradoura, também se revelou necessário providenciar o argumento – a um só tempo, de ordem “moral” e dito “científico” – à ocupação, à pilhagem, à colonização e à escravidão. Como sempre, o recurso consistiu em combinar os atos coercitivos com a construção de consensos, visando a cristalizar uma hegemonia. Decerto, cada caso merece um estudo concreto, singular e mais profundo, porém, a trajetória do racialismo sensível ao racismo doutrinário pode ser recuperada lato sensu.
Nos séculos XVII a XVIII, pensadores mais ou menos influentes – norte-americanos e, sobretudo, europeus –, como Christoph Meiners,12 Johann Blumenbach,13 Samuel Morton,14 Arthur de Gobineau,15 Francis Galton,16 Joseph Renan17, Samuel Soemmerring18 e outros, em que pesem as suas distintas preferências ou inclinações filosóficas, foram pioneiros na elaboração doutrinária do racialismo e na fundamentação pseudocientífica do racismo. A época ficou marcada pelos infames zoológicos de seres humanos existentes na Europa, que, maquiados como “exposições etnológicas”, sobreviveram pelos anos 1900 afora.
1 FISCHER, Stephan Martin et al. Jenaer Erklärung. Jenaer, 2019. Jenaer Erklärung.PDF (TA; CA; C4/23)
2 JACQUARD, Albert et al. Y a t-il des races dans l’espèce humaine? Manifesto, 1996. (TA)
3 PIAZZA, Alberto. Un concept sans fondement biologique. In: “Dossier – Aux origines de la diversité humaine: la science et la notion de race”. La Recherche, no 302, out./1997. archive.wikimix.com (TA; CA; C4/23)
4 PENA, Sérgio Danilo Junho. Receita para uma humanidade desracializada. In: Peter Fry et al (org.). “Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo”. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, pp. 38, 39 e 41.
5 GRAVES JR., Joseph L. The Race Myth: Why We Pretend Race Exists in America. New York, A Plume Book, 2005.
6 GRAVES JR., J. L. Apud: CUDISCHEVITCH, Clarice. Medicina se baseia em diferenças raciais que não existem. In: Folha de S. Paulo, 3/3/2023.
7 HERCHENHORN, Daniel; et al. In: Câncer de próstata. https://vimeo.com/
8 MARX, K. O Capital, Livro 1. Rio de Janeiro, Boitempo Editorial., 2011, pp. 959 a 1014.
9 GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. São Paulo, Ática, 1978.
10 ROCHA, Ronald. 1822: a Independência conclusa na revolução tardia. In: “A Terra é Redonda”, 28/8/2022. https://aterraeredonda.com.br (C4/23)
11 KLEIN, Hebert S. The Atlantic Slave Trade – New Approaches to the Americas. New York, Cambridge University Press, 2010. LAW, Robin. The Slave Coast of West Africa, 1550-1750 – The Impact of the Atlantic Slave Trade on the African Society. Oxford, Clarendon Press, 1991. SILVA, Alberto da Costa e. Um rio chamado Atlântico – a África no Brasil e o Brasil na África. Rio de Janeiro, Nova Fronteira / UFRJ, 2003.
12 MEINERS, Christoph. Über die Natur der afrikanischen Neger, und die davon abhängende Befreyung, oder Einschränkung der Schwarzen. Hanovre, Wehrhahn, 1997. MEINERS, C. Grundriß der Geschichte der Menschheit. Lemgo, Meyer, 1785. ESCUDIER, Alexandre. Histoire universelle et comparaison à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne. In: “Revue Transatlantique de Recherches sur l’Europe”, a. IV, no 2, 2008, pp. 1 a 17.
13 BLUMENBACH, Johann Friedrich. The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach. London, Anthropological Society, 1865. BLUMENBACH, J. F. On the natural varieties of mankind (De generis humani varietate nativa). New York, Bergman Publishers, 1969.
14 MORTON, Samuel George. Crania Americana: Or, A comparative view of the skulls of various aboriginal nations of North and South America. Philadelphia, J. Dobson, 1839. MORTON, S. G. Crania Aegyptiaca or, Observations on Egyptian Ethnography derived from Anatomy, History and the Monuments. Philadelphia/London, J. Penington / Madden & Co., 1844.
15 GOBINEAU, J. A. de. Essai sur l’inégalité des races humaines. Paris /Hanovre, Librairie de Firman Didot Fréres / Rumpler Libraire-Éditeur, 1853.
16 GALTON, Francis. Hereditary genius. London, Macmillan and Co, 1869.
17 RENAN, Ernest Joseph. O que é uma nação? Paris, Conferência, 1882. https://www.unicamp.br/~aulas/ (C4/23)
18 SOEMMERRING, Samuel Thomas. Über die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europär. Mainz, Allgemeine Literatur-Zeitung, no 58, 1784. https://zs.thulb.uni-(jena.de (C4/23)
Os artigos assinados não expressam, necessariamente, a opinião de Vereda Popular, estando sob a responsabilidade integral dos autores.
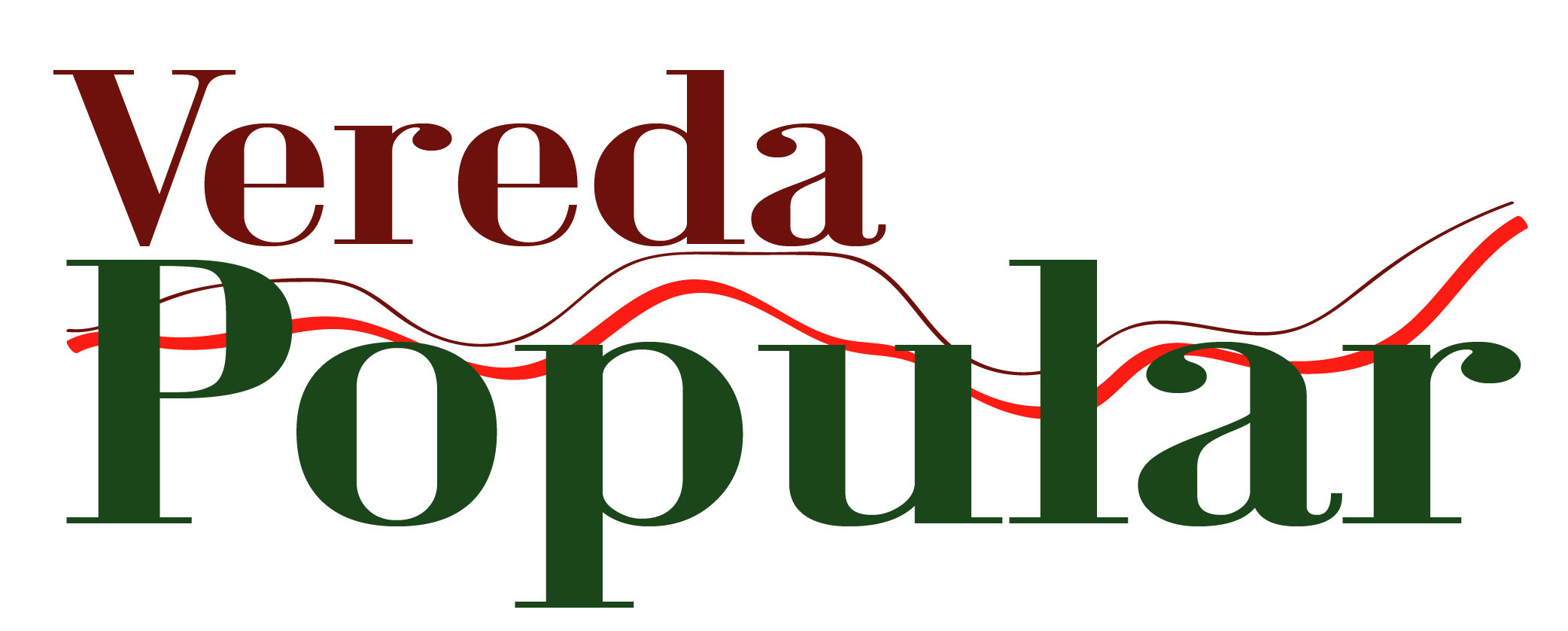

Deixe um comentário