Por Ronald Rocha—
Camaradas,
As Teses, corretamente, tiveram que abordar uma gama enorme de questões táticas, sendo impossível alongar o exame de cada uma e todas. Considerando ser importante aprofundar e qualificar o combate ao racismo na sociedade brasileira, publico uma série de artigos, visando a complementar o tema no espaço adequado, que é a TD. Segue o primeiro de uma sequência numerada.
I – A saga do ser humano à unicidade racial
O problema central que se pretende abordar neste artigo são as noções de “raças”, “racialismo” e “racismo”, assim como as íntimas relações que apresentam entre si. Ademais, propõe-se a tecer, de modo muito especial, os seus papéis – como funções de conjunto e de cada parte – na formação, na geração, na reprodução ou na renovação de preconceitos contra os setores populacionais falsamente identificados mediante a imprópria e abusiva “natureza” de seres “inferiores”. Obviamente, o segregacionismo alega como pretexto as distintas características somáticas, que sempre são interiorizadas em condição “dissonante”.
As pessoas vislumbradas sob tal ótica – deformada, vulgar, diferenciadora e separatista – são tidas como passíveis de serem alvejadas por meio de processos discriminatórios, sejam institucionalizados, sejam informais. A questão é muito antiga, bem como extremamente complexa. Mais grave ainda: produz sérias consequências político-práticas, em face das quais é impossível guardar quaisquer neutralidades, pois a própria imparcialidade compromete o sujeito que a examina. Portanto, pede um enfoque abrangente, que olhe para o passado remoto e o investigue, mesmo que o texto se alongue para muito além do esperado.
Convém iniciar o texto recorrendo-se a certas citações por demais conhecidas e compartilhadas, mas que perenizaram três bestialógicos. São “preciosidades” aparentemente inúteis e distantes, mas que permanecem vivas de algum modo nas superstições, na psicologia social, nos hábitos, nas condutas e nos estereótipos há muito cristalizados, sejam explícitos, ásperos e agressivos, sejam camuflados, “brandos” e “indulgentes”. Aliás, mantêm-se politicamente ativos, mesmo que apenas como fundamentos articuladores dos seus tipos espontâneos e inconscientes, ou seja, das suas manifestações imediatamente sensíveis.
O primeiro foi exarado pelo tão famoso quanto “badalado” político, filósofo e aristocrata francês, barão de La Brède e de Montesquieu:
“Não se pode pensar que Deus, um ser muito sábio, possa ter colocado alma, sobretudo alma boa, em um corpo todo negro. […] É impossível supor que tais gentes sejam homens, porque, se assim o supuséssemos, começaríamos a acreditar que nós mesmos não somos cristãos.”1
O segundo foi escrito pelo médico e anatomista escocês, acumpliciado em atividades criminosas para conseguir cadáveres, Robert Knox:
“Que a raça decida sobre tudo nos negócios humanos, é simplesmente um fato, o fato mais geral e notável que a filosofia jamais anunciou. A raça é tudo: a literatura, a ciência, a arte, […] a civilização […]. As raças negras podem ser civilizadas? Devo dizer que não.”2
O terceiro foi elaborado pelo romancista, ensaísta, filósofo e diplomata, igualmente francês, o não menos célebre conde Gobineau:
“Já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e índio nas veias; o resultado são compleições raquíticas que, se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos.”3
Tais passagens pretendem sustentar, de maneira límpida e direta, os seus mitos correspondentes, pela ordem: a “superioridade”, a “determinação” e a “pureza”, todos seguidos pelo adjetivo “racial” que, desde o século XVII, está entre as palavras mais usadas nas ciências da natureza e da sociedade. Assim, declinam teses aberrantes, mas todas elaboradas, respectivamente, nos seguintes contextos emblemáticos da história universal, marcados pelas grandes mudanças burguesas triunfantes, que iniciaram o declínio do velho colonialismo nos setecentos, e pela passagem ao século XX, que inaugurou a etapa do imperialismo contemporâneo.
Inicialmente, o tempo do iluminismo filosófico e suas vinculações políticas, presente nos prolegômenos e nas revoluções americana, francesa e haitiana. Depois, a fase dos projetos eugênicos, diametralmente antagônicos às concepções ao mesmo tempo apresentadas pelo Manifesto do Partido Comunista,4 que lhes subtraem, inapelavelmente, todos e quaisquer álibis justificatórios pretensamente amparados na “época”. Por fim, o corolário racista que adornou as tertúlias “ilustradas” nos palácios do imperador Pedro II, quando a formação econômico-social brasileira sustentava-se nas relações de produção escravistas.
Impõe-se, mesmo que ligeiramente, a providência metodológica de analisar o conceito que subjaz e se prende à lógica doutrinária em tela. O vocábulo “raças” – na carência do qual suas derivações ou parentescos semânticos não existiriam – refere-se aos conjuntos formados por animais da mesma espécie que apresentam características biológicas próprias, estáveis, duradouras, intrínsecas, relevantes, comuns e transmitidas mediante as próprias substâncias hereditárias, bem como, por via de consequência, conseguem diferenciá-los entre si no que diz respeito aos fenômenos relacionados aos fenótipos e aos genótipos.
Falta, porém, outro elemento importantíssimo, que nunca deve ser ignorado: as suas distinções têm que ocorrer não apenas superficialmente, nas formas exteriormente mais visíveis, porém, de modo cabal e incontestável na comparação com indivíduos integrados a outros conjuntos situados no interior da mesma espécie. Hoje, tais relevâncias e diferenciações já podem ser testadas em validações ou refutações por meio da genética molecular, um recurso convertido em imperativo técnico para quaisquer diagnósticos científicos respeitáveis: se tênues ou notadamente relevantes, se insignificantes ou suficientemente fulcrais.
A palavra-chave, que acompanhará o leitor até o ponto final desta série de artigos tem o seu fundo etimológico fincado no ratio latino, que significa sorte ou categoria, no caso entendidas com sentidos específicos de, apenas, porção e qualidade. Aliás, exatamente a mesma substância pretendida pelo “Race” usado em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto…, para se referirem aos proletários, isto é, operários – “Proletarier” ou “Arbeiter”.5 Mais antigamente, o substantivo gozava de um locus filológico próximo a radix, remetendo a raiz. Depois, penetrou no idioma português por meio do moderno italiano razza.
Todavia, o empréstimo efetivado não foi gratuito e nem unilateral, pois acabou caldeando-se – nos planos fonético e ortográfico – às reminiscências da ocupação ibérica pelo Império Romano e de outras sobreposições que lhe sucederam, especialmente na banda oeste mais extrema onde, posteriormente, surgiu e se assentou a cultura galaico-lusitana. Para o assunto em análise, importa mais que, ao longo de vários séculos e durante a Europa feudal, o registro linguístico assumiu acepções aportadas pelo chamado sermo vulgaris – também conhecido como latinório –, recuperadas, “civilizadas” e, novamente, regradas.
Quem, de fato, protagonizou a simbiose foi a grande multidão falante, sobretudo nas cidades nascentes. A formalização, porém, requereu a intervenção da intelectualidade à época – destacadamente, as camadas eclesiásticas e nobres da classe dominante senhorial, inicialmente rural, depois urbana, inclusive suas baixadas ou séquitos aristocráticos, monásticos e agregados. Naquelas circunstâncias, o vocábulo acabou consolidando-se com certo rigor legado pela tradição aristotélica, para exprimir a linhagem ou a descendência de pessoas com ancestrais comuns e, por decorrência ou certa propensão, com aspectos físicos assemelhados.
A pesquisadora cubana Zuleica Romay esclarece os processos e as maneiras pelos quais tal enfoque degenerou em preconceitos na europeia Península Ocidental. Citando Nelson Manrique,6 refere-se ao sentido pejorativo que surgiu no século XIV, quando a reconquista hegemonizada pelo “cristão intolerante e supressor empreendeu a hostilidade contra os semitas”,7 nominalmente, os judeus convertidos. Agreguem-se, também, os árabes-mouros magrebinos, de pele mais ou menos melaninada – como a de Otelo, que Shakespeare8 imortalizou –, integrados como sobreviventes ao renovado caldeamento sociocultural.
Durante o período histórico das revoluções burguesas – em que floresceram o iluminismo, na filosofia, e a biologia, entre as primeiras ciências naturais – o conceito “raças” passou a ser utilizado na botânica e na zoologia. O propósito inicial era distinguir e compreender os diversos tipos de vegetais ou animais, cada vez mais conhecidos. A classificação desempenhou, assim, um papel no processo humano de apropriação à realidade que se apresentava de pronto. Semelhante função gnosiológica deve ser reconhecida como algo inevitável à época, embora com a contaminação axiológica já principiada em termos difusos e crescentes.
A questão central é a seguinte: a noção de “raças” – uma filha plebeia do conúbio filológico que vem de processos, tempos e determinações imemoriais – deve ser mantida completamente ou, pelo contrário, tem que ser descartada vigorosamente? Semelhante pergunta precisa receber, obrigatoriamente, respostas contraditórias entre si – conforme a concepção de mundo marxista, isto é, com base na dialética materialista e no método que lhe corresponde –, por duas maneiras diferentes na esfera dos fenômenos, mas que sejam complementares no patamar das essências envolvidas. Vale dizer: com aceitável aporia no significante, porém, com a necessária coerência no significado.
Primeira resposta: o termo “raças” deve ser mantido para uso indispensável na paleoantropologia e nos trabalhos arqueológicos que lhe são correspondentes, mormente sobre as Eras em que a genética molecular tem sido incapaz de alcançar pela carência de materiais sobreviventes. Tal conclusão é sustentada pelos achados e demais objetividades pretéritas, considerados nos estudos e nas pesquisas dessas disciplinas. Vale dizer, talvez com excesso de prudência: pelo menos até que os avanços cada vez mais céleres cheguem a descartá-las, eventualmente, invertendo a propensão hoje dominante, quase consensual.
O equívoco de François Bernier9 quando propôs, em 1684, a noção de “raças” para designar os contrastes intra-humanos atuais, verificáveis na superfície puramente somática dos agrupamentos sociais sujeitos a longos isolamentos, abriu também uma fresta para olhar o distante passado então escondido. Carolus Linnaeus,10 renomado “naturalista” sueco, escancarou de vez a porta quando apresentou, no meio dos anos 1700, a sugestão errônea – hoje abandonada pela ciência, mas paradoxalmente instigante à época – de que se poderiam e deveriam classificar os seres vivos contemporâneos, animais ou vegetais, em “raças” e “classes”.
O que têm a ver tamanhas impropriedades – se avaliadas vis-à-vis os acúmulos atuais, é óbvio – com as conquistas progressistas no âmbito científico? Acontece que o conhecimento é impulsionado pelas contradições internas da objetividade, interiorizadas na subjetividade, sobretudo aquelas, para utilizar uma expressão engelsiana, emergentes na “produção e reprodução da vida real”.11 O empirismo naturalista grosseiro, comum no século XVIII, acabou alertando as investigações – os pesquisadores – para se voltarem aos fatos pregressos e à origem dos seres humanos. Logo, para sua proto-história, como Charles Darwin operou magistralmente, superando as crenças criacionistas.12
Em relação àquele passado esfumaçado pela inconsciência do si-anterior, porém, cada vez mais iluminado pelas réstias que os novos saberes representam e fulguram, é preciso manter a hipótese de que – posteriormente aos gargalos e riscos de uma evolução truncada ou talvez, como alguns estudiosos sustentam, prestes a extinguir-se – prevaleceram, provavelmente, espécies humanas e raças distintas. Pelo que se conhece hoje, o animal Homo surgiu no Plioceno, há quase três milhões de anos. Posteriormente, no Pleistoceno Inferior, talvez até antes, houve notáveis diferenciações.
No entanto, a situação diversificante se reverteu no decurso do Pleistoceno Superior, até convergir depois, de maneira generalizada e no âmbito planetário, para uma só espécie, mais ainda, em uma só raça. Tais processos altamente complexos experimentaram – em suas inúmeras veredas e quebradas – polidirecionais migrações, duradouros isolamentos, infinitos reencontros e múltiplas centrifugações. Compreendê-los precisa e profundamente, reconstruindo as suas linhas evolutivas e temporais, é o maior desafio que instiga os paleoantropólogos desde sempre.
A unicidade biológica final da humanidade aconteceu há 30 mil anos, mais ou menos, considerando-se os dados fósseis e genéticos atuais em veloz crescimento. A partida inicial dessa extraordinária trajetória residiu no salto alicerçado pelo trabalho como fundamento básico na “produção e reprodução da vida real”. Portanto, como essência ontológica da sociedade. Comprovam-no as ferramentas encontradas junto aos resíduos pertencentes à espécie Homo habilis,13 a primeira conhecida, que surgiu em uma região do leste africano equivalente hoje à Tanzânia.
Impossível deixar de observar uma conquista fundamental no campo do conhecimento, que até hoje instiga os mais conceituados estudos e investigações acerca da história social. Trata-se da formulação efetivada por Friedrich Engels, pioneiramente registrada em um ensaio referente ao lugar ontológico central ocupado pelo trabalho no surgimento e desenvolvimento qualitativo dos seres humanos. A sua tese nuclear – que depois foi associado com mais outros escritos para compor a coletânea Dialética da natureza – restou plenamente comprovada e merece rememoração:
“Nem uma só mão simiesca construiu jamais uma faca de pedra, por mais tosca que fosse. […] O trabalho […] é a condição básica e fundamental de toda vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, devemos dizer que o trabalho criou o próprio homem. […] Posto que, a postura ereta, foi para os nossos peludos antepassados primeiro uma norma e logo depois uma necessidade, depreende-se que as mãos teriam, então, que executar funções cada vez mais variadas. […] Vemos, pois, que a mão não é apenas um órgão de trabalho; é também o seu produto. […] A mão, porém, não era algo com existência própria e independente. Era, unicamente, o membro de um organismo integral e sumamente complexo.”14
Atualmente, os especialistas reconhecem, com base nas informações recolhidas nos continentes africano, europeu e asiático, durante os séculos XIX a XXI, deveras irrefutáveis, que o inteligente Homo – ao longo das suas notáveis diásporas e associações – apresentou várias subdivisões, algumas poucas razoavelmente bem conhecidas. Os dados paleogenéticos vêm sugerindo, ademais, que populações arcaicas no mínimo se reproduziram entre si, como também lograram fazê-lo com alguns dos setores humanos hoje considerados, por consenso, como anatomicamente atuais.
Assim, nas figuras de seus descendentes fossilizados e de outros até mesmo vivos, mundo afora, deixaram rastros que demostram uma capacidade conceptiva mantida. Isto é, as partes consideradas expuseram indícios esqueléticos e genéticos de que foram não só espécies distintas – como inúmeros de seus antecessores remotos já catalogados, que gerariam híbridos inférteis –, mas diferentes raças, pois alguns de seus componentes legaram descendentes fecundos à posteridade. A tal respeito, existem ainda possibilidades razoáveis de ocorrerem outros achados significativos.
Segunda resposta: o termo “raças” – note-se, usado sempre no plural – necessita ser descartado, vigorosa e terminantemente, para os seres humanos de hoje. O gigantesco estoque de materiais objetivos, recuperado pelos especialistas e acumulado atualmente – um manancial visado pelas pesquisas e pelos estudos paleoantropológicos, articulados à genética molecular –, já comprovou sem dúvidas que, no rol das populações sobreviventes ou multiplicadas nos derradeiros 30 ou 40 mil anos, afirmou-se uma só espécie de Homo, como também uma só raça.
Tal processo de convergência – excepcionalmente longo e ainda insuficientemente conhecido – aconteceu após as extinções conflituosas de agrupamentos neandertais e denisovanos, além de miscigenações assimiladoras efetivadas entre si e por ambos com alguns segmentos populacionais anatomicamente atuais em pulso expansivo. Talvez, também, tenha ocorrido alguma interação entre outras raças e mesmo espécies ainda incógnitas ou pouco pesquisadas, como a Homo longi. São possibilidades reais em aberto, embora secundárias para o assunto em foco.
Pela importância da premissa em discussão, vale a pena repeti-la de outra forma. Considerando-se as ciências que tematizaram e dissecaram os seres humanos contemporâneos, a genética – reforçada por trabalhos transdisciplinares às centenas ou milhares – refutou, peremptoriamente, a hipótese que postulou, do século XVIII em diante, uma relevância paroxísmica nas variações interiores ao gênero. Em contrapartida, provou que as distinções remanescentes após a extensa e tortuosa trajetória, contêm óbvias tenuidades, como também manifestas insignificâncias.
O processo de homogeneização entre as variações antigamente verificadas no gênero, resultante final das radicais mudanças que superaram os nichos biogeográficos – responsáveis pelas velhas diversidades –, gerando a primeira forma de mundialização, foi extenso e labiríntico. A existência das espécies diferentes se conta por anos acima de um milhão e as relações das últimas raças entre si às centenas de milhares. Para entendê-lo a fundo, só recorrendo-se a pesquisas cujo escopo vai muito além do pretendido neste artigo. Mas cabem algumas lembranças.
O “Projeto Genoma Humano”15 é um grandioso estudo científico internacional, iniciado nos anos 1990 e desenvolvido até pouco tempo, continuadamente. O seu propósito central consistiu na identificação dos pares básicos que formam o DNA do ser Homo. Para tanto, a pesquisa recorreu ao mapeamento e sequenciamento integrais dos seus genes distribuídos planetariamente. Ao fim e ao cabo, a verificação conseguiu estabelecer uma conclusão irrecorrível. Considerado em sua totalidade, o genoma se revelou quase idêntico no que diz respeito ao amplo conjunto investigado.
Em números verdadeiramente gigantescos, chegou-se à seguinte conclusão: nada menos que os 3,2 bilhões de nucleotídeos então classificados apresentaram uma sequência com impressionantes 99,9% de coincidência para todos e para cada um dos indivíduos considerados. Assim, as diferenças constatadas ficaram por conta só de inexpressivos 0,1%, suficientes apenas para explicar os aspectos somáticos mais superficiais, ocorrentes na esfera dos meros fenômenos. Tais fenótipos são imprestáveis para justificar, cientificamente, a existência de “raças” no mundo atual.
1 SECONDAT, Charles Louis de (Barón de La Brède et de Montesquieu). De l’esprit des lois. In: “Oeuvres completes”. Paris, Garnier Frères, 1875, p. 586. (Tradução do Autor, doravante TA) (Colchete do Autor, doravante CA)
2 KNOX, Robert. The races of Men. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1850, p. 7. (TA; CA)
3 GOBINEAU, Conde Joseph Arthur de. Carta para Caroline de Gobineau, em 19/4/1869. Apud: RAEDERS, Georges. “O inimigo cordial do Brasil – o Conde de Goubineau no Brasil”. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1988, p. 90.
4 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifest der Kommunistischen Partei. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. “Werke”, Band 4. Berlin, Dietz Verlag, 1977, pp. 459 a 493.
5 MARX, K.; ENGELS, F. Manifest…, cit., p. 469.
6 MANRIQUE Nelson. La piel Y la pluma: escritos sobre literatura, etnicidad y racismo. Lima, Centro de Informe y desarrollo Integral de Autogestión, 1999.
7 ROMAY, Zuleica. Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. La Habana, Casa de las Américas, 2014, p. 139. (TA)
8 SHAKESPEARE, William. Othello – the moor of Venice. Folger Shakespeare Library. https://shakespeare.folger.edu/ (C4/23)
9 BERNIER, François. The division of the earth according to the different types or races of men who inhabit it. In: “History Workshop Journal”, no 51. Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 247 a 250. https://joelvelasco.net. (C4/23)
10 LINNAEUS, Carolus. Systema naturae. In: “Documents”. London, The Linnean Society. https://linnean-online.org (C4/23)
11 ENGELS, F. Carta para J. Bloch, de 22/9/1890. In: MARX, K.; ENGELS, F. “Obras Escogidas”, T. III. Moscú, Progreso, 1980, p. 514. (TA)
12 DARWIN, Charles. A Origem das Espécies. Porto, Lello & Irmão, 2003.
13 LEAKEY, Richard. A origem da espécie humana. Rio de Janeiro, Editora Rocco Ltda., 1997, pp. 45 e 46.
14 ENGELS, F. El papel del trabajo en la transformacion del mono em hombre. In: MARX, K.; ENGELS, F. “Obras…”, T. III, cit., p. 67. (TA; CA)
15 DURBIN, R. et al. A map of human genome variation from population scale sequencing. In: “Nature Revue”, 2010, pp. 1061 a 1073. GIBBS, R. A. et al. The Internacional HapMap Project. In: “Nature Revue”, 2003, pp. 789 a 796. LANDER, E. S. et al. Inicial sequencing and analysis of the human genome. In: “Nature Revue”, 2001, pp. 860 a 921.
Os artigos assinados não expressam, necessariamente, a opinião de Vereda Popular, estando sob a responsabilidade integral dos autores.
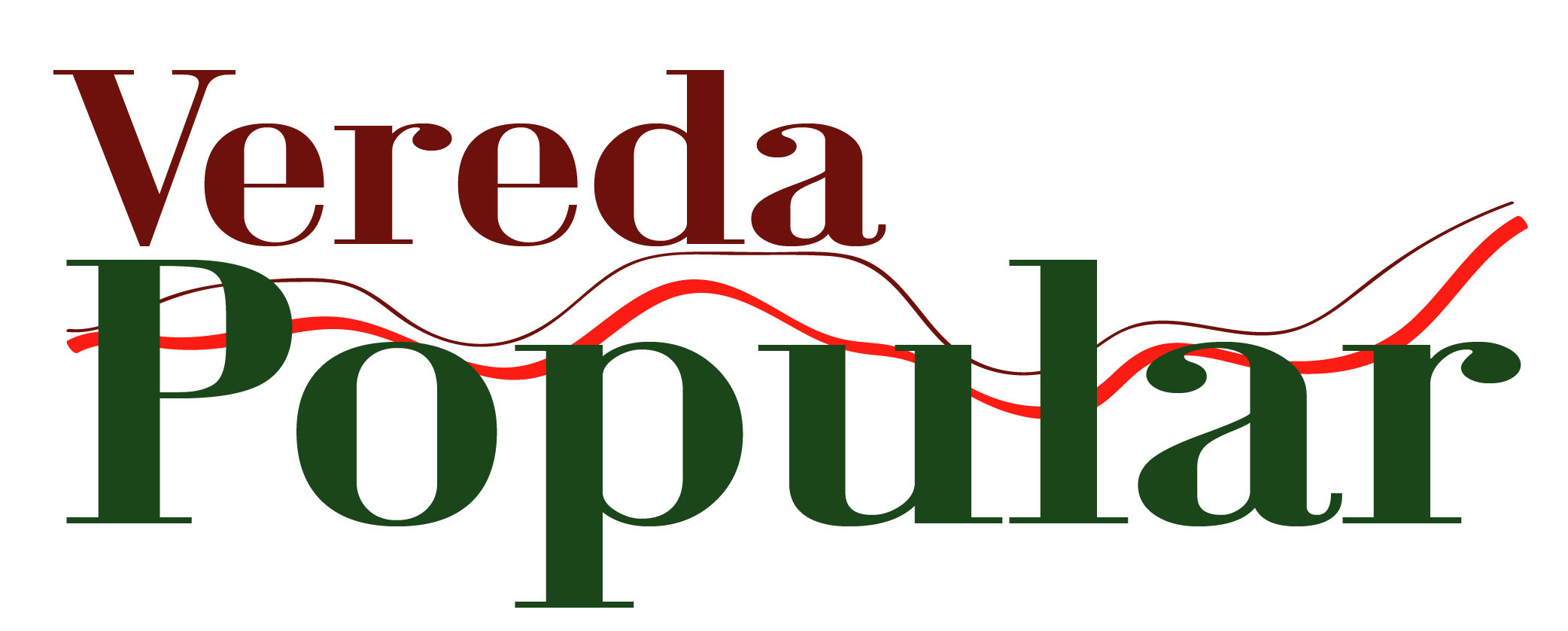

Deixe um comentário