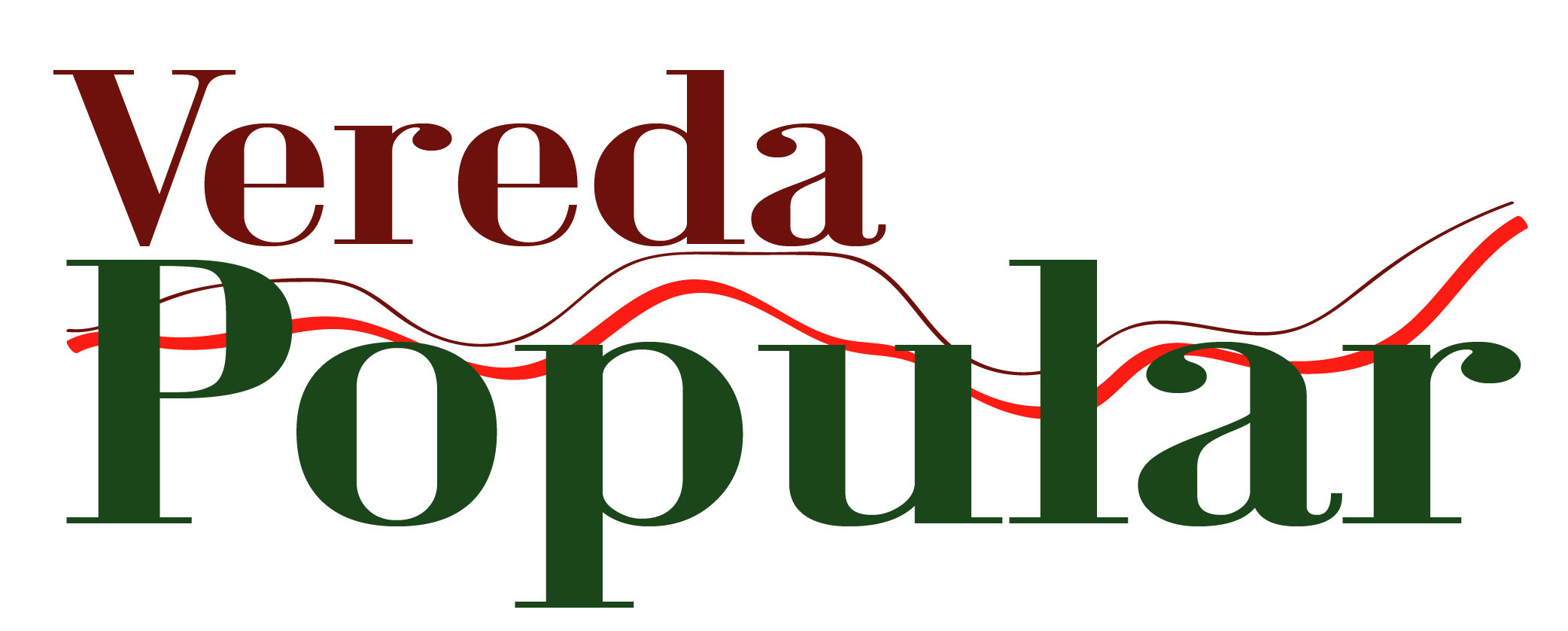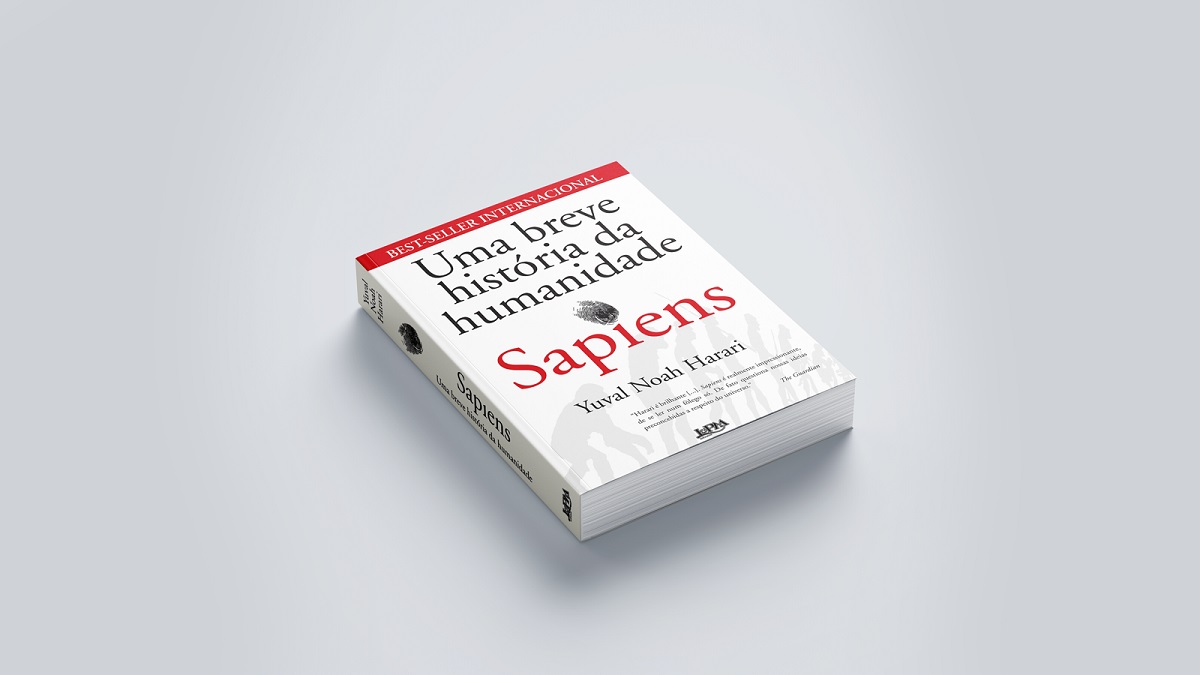Por Victor Guida e Pedro Tolipan—
O livro “Sapiens: Uma Breve História da Humanidade”, de autoria do historiador Yuval Harari, tenta contar a história da caminhada humana até os dias atuais e projeta brevemente o que seria o futuro da nossa espécie. Contando com uma escrita de fácil leitura e um tema que atrai bastante curiosidade, rapidamente se tornou um sucesso de vendas em dezenas de países.
O livro é recomendado por artistas, políticos e intelectuais de diversas áreas, e até mesmo por professores universitários a estudantes de seus cursos. Diríamos que é até louvável que um livro com essa temática seja apreciado em esferas tão diversas se não fosse por um problema: “Sapiens” não conta a história da humanidade. Na verdade, ele a distorce.
Assim, buscamos apresentar neste texto alguns sérios problemas do livro que estão associados de alguma forma à arqueologia e que passam por questões envolvendo meio ambiente, história, definição de ciência, entre tantas outras.
A versão do livro usada para fazer essa crítica é a 3ª reimpressão da edição de 2020.
Antes de começar a pontuar os problemas do livro, julgamos importante falar sobre a formação acadêmica do Harari. Yuval Harari não é um arqueólogo, ele não tem pesquisa e experiência nessa área. Sua formação é em história, onde ele se especializou em história mundial, história medieval e história militar. Não ser da arqueologia não impede ele nem ninguém de escrever um livro sobre um tema próprio da arqueologia, mas abre espaço para que mais erros sejam cometidos quando os argumentos não se baseiem em uma quantidade razoável de referências corretas e atuais sobre o assunto, que é o que acontece com “Sapiens”. Ainda, o termo “história da humanidade” engloba eventos que vão desde o surgimento da nosso gênero Homo até os dias atuais, englobando as diferentes formas de organização social e modos de vida que existiram ao longo dos últimos 3 milhões de anos, e é por isso que esse tema não é apenas do campo da história, como o termo leva a crer, mas também (e principalmente) da arqueologia.
Dito isso, vamos à crítica!
A ideia de progresso
Um dos principais problemas e uma das bases de boa parte do conteúdo do livro é a ideia que o autor traz de que há estágios de desenvolvimento social ou de “progresso”, em que a humanidade teria iniciado por caça e coleta, seguido para agricultura, se estabelecido em cidades, desenvolvido um sistema hierárquico e, por fim, “alcançado” a civilização. Essa abordagem é mais visível nos capítulos iniciais, por exemplo quando o autor faz divisões entre sociedades “pré-agrícolas” e agrícolas, colocando a caça e coleta como um estágio anterior à agricultura, mais atrasada no ponto de vista de desenvolvimento social, ou quando coloca grupos caçadores-coletores como primitivos, no sentido de selvagens, animalescos, chegando a compará-los socialmente a outros primatas como chimpanzés e bonobos, ou ainda quando aponta que tais grupos são de baixa complexidade social (um termo que até não faz tanto sentido assim, como aponta Graeber e Wengrow no livro “O Despertar de Tudo”).
Além de errada, essa é uma posição eticamente abominável. É em “História do Pensamento Arqueológico”, de Bruce Trigger, que temos boas informações sobre essa questão. Criada há alguns séculos, essa ideia de evolução social foi muito utilizada no início da arqueologia, quando a disciplina era dominada pela lógica colonialista, e perdurou em certa medida até a primeira metade do século XX. Ela defende que todos os grupos humanos passam por estágios de desenvolvimento social e tecnológico, partindo da caça e coleta e culminando na sociedade ocidental moderna (EUA e Europa), e que os diversos grupos humanos se encontram em diferentes estágios nessa escala de progresso. A partir dessa noção, colocava-se a sociedade ocidental como ápice de progresso e que as demais sociedades humanas seriam inferiores. Uma das consequências diretas dessa ideia é a forma desprezível como os povos indígenas de diversas regiões foram tratados pelas sociedades europeias e estadunidenses, principalmente durante a época da colonização.
Infelizmente, de uma forma ou de outra, aspectos dessa noção de evolução social ainda estão presentes no imaginário social, e fazer dela uma das bases de um livro popular sobre história da humanidade só contribui para que seja mais propagada.
A ignorância sobre a arqueologia
Frequentemente, o livro traz dados arqueológicos mas muitas vezes eles ou estão incorretos ou são usados para costurar meias verdades e mentiras a fim de sustentar sua narrativa. Ainda mais agravante é o total desprezo e desconhecimento sobre a arqueologia e as evidências da vida no passado disponíveis à época de publicação do livro.
Um desses casos deriva da seção anterior e se trata da ideia de que as estruturas hierárquicas de classe surgiram devido ao adensamento populacional em cidades, muitas vezes dentro de um regime autoritário, como posto no capítulo 6 – “Construindo pirâmides”. Aqui voltamos à obra de Graeber e Wengrow, em que os autores apontam que a maioria das primeiras cidades não possuíam essa configuração de estratificação social, pelo contrário, esse tipo de arranjo era a minoria. Os autores detalham as evidências arqueológicas que mostram a diversidade de configurações sociais que existiam nessas cidades, como por exemplo as primeiras cidades da Mesopotâmia, onde evidências claras de regimes monárquicos são ausentes e as evidências encontradas apontam para a participação de cidadãos de forma relevante nas tomadas de decisão, constituindo assembleias comunitárias.
Uma das inúmeras situações de total desconhecimento sobre a história da humanidade (relembro aqui que este é o tema do livro) está presente no mesmo capítulo, onde Harari afirma que “Os caçadores-coletores não ligavam para o futuro porque viviam um dia de cada vez, tendo dificuldades em conservar comida ou acumular posses” (pág. 114) e que “[…] não havia motivo para se preocupar com coisas que escapavam a seu controle” (pág. 114), pontuando que não imaginavam um futuro e que não faziam planos a longo prazo, o que, segundo o autor, só ocorreria após o início do modo de vida camponês. Não há quaisquer evidências que essas afirmações sejam remotamente verídicas. Grupos caçadores-coletores são diversos em suas culturas, em suas estruturas sociais, em suas visões de mundo. Assim, desenvolveram diferentes formas de resolver conflitos, de organizar suas sociedades, de dividir terras, de planejar rituais festivos, funerários e outros, e de dividir o trabalho entre seus membros. Caçadores-coletores não eram e nem são grupos humanos sem imaginação que apenas reagem a seus instintos de sobrevivência conforme as necessidades aparecem, como aponta Harari. Exemplos dessa diversidade de modos de vida dos caçadores-coletores podem ser facilmente encontrados na literatura arqueológica, mas aqui indicamos dois livros citados ao longo desta crítica, são eles “O Despertar de Tudo”, de David Graeber e David Wengrow, e “Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro”, de Maria Dulce Gaspar.
Caçadores-coletores não são o único alvo do autor quanto ao desconhecimento do que aborda. A sua narrativa a respeito da agricultura também está repleta de erros graves, a começar pela ideia de “Revolução Agrícola”, como se as sociedades que experimentaram o cultivo de plantas tenham se tornado latifundiárias plantadoras de cereais. Retornando à obra de Graeber e Wengrow, vemos que os processos que levaram diferentes sociedades a adotar a agricultura foram longos, complexos e cheios de experimentações tanto de formas de gerenciamento da terra quanto de espécies cultivadas, como batata, mandioca, girassol, abóbora, entre tantas outras. Além disso, muito contrário ao que “Sapiens” relata, não foram a causa do surgimento da propriedade privada nem de estruturas sociais hierárquicas, uma vez que boa parte dessas sociedades possuíam diferentes sistemas de uso coletivo da terra de forma sustentável sem a necessidade de divisão em classes sociais para administrar tal uso.
Talvez, tamanho desconhecimento sobre a arqueologia venha do desdém que o livro expõe sobre essa área do conhecimento. Não é difícil notar pelos parágrafos as sentenças que menosprezam o potencial das ciências arqueológicas ao mesmo tempo que alimentam uma rixa sem fundamentos entre as disciplinas de história e arqueologia, como nos trechos:
“É claro que não dispomos de registros escritos da era dos coletores, e os indícios arqueológicos consistem sobretudo em ossos fossilizados e ferramentas de pedra. […] A impressão geral de que os humanos pré-agrícolas dependiam fundamentalmente de pedras é uma falsa concepção baseada nesse viés arqueológico” (págs. 54-55)
“Os cientistas em geral procuram atribuir os eventos históricos a fatores econômicos e demográficos. É o que melhor se ajusta a seus métodos racionais e matemáticos. No caso da história moderna, os estudiosos não podem deixar de levar em conta fatores não materiais, como ideologia e cultura. As evidências escritas os obrigam a fazer isso. […] Porém, não possuímos documentos da cultura natufiana, portanto quando lidamos com períodos antigos a escola materialista reina absoluta. É difícil comprovar que povos pré-literários fossem motivados pela fé e não pela necessidade econômica.” (pág. 103)
Esses trechos mostram que o autor ignora toda uma área dedicada a estudar a história da humanidade (que, relembro, é o tema do livro) e o conhecimento gerado por ela para seguir com sua narrativa. A arqueologia estuda os vestígios deixados por populações humanas para entender sua cultura, organização social, modo de vida, economia, rituais festivos e religiosos, entre tantos outros aspectos da vida dessas populações. É através desses vestígios e de seu contexto (onde, como e associados a que estavam esses vestígios) que podemos conhecer sobre essas questões. E, em oposição ao que o Harari postula, tudo isso sem um documento escrito sequer deixado por essas populações.
Ademais, ainda que documentos sejam sim importantes para entender tais aspectos, eles costumam representar uma perspectiva daquelas pessoas que os escreveram, e não um relato fidedigno de fatos ocorridos, cultura e afins. De um modo geral, quanto mais evidências e mais diversas elas são (objetos, adereços, ferramentas, esqueletos, documentos, etc), maior será a possibilidade de compreender de fato questões culturais, religiosas, econômicas, demográficas e afins de populações passadas.
Essa narrativa adotada pelo autor demonstra uma grande limitação do mesmo a respeito do tema de seu próprio livro. Ao invés de “Sapiens”, recomendamos a leitura de outros livros para se ter uma melhor ideia do que a arqueologia é capaz. Além dos livros “O Despertar de Tudo” e “História do Pensamento Arqueológico”, anteriormente citados, há o “1499: O Brasil Antes de Cabral”, do jornalista Reinaldo José Lopes; o “Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro”, da arqueóloga (e maior especialista do país sobre sambaquis) Maria Dulce Gaspar; o “Sob os tempos do equinócio: Oito mil anos de história na Amazônia central”, do arqueólogo Eduardo Góes Neves; o “Arqueologia Brasileira: a pré-história e os verdadeiros colonizadores”, do arqueólogo André Prous; o “Um esqueleto incomoda muita gente”, do arqueólogo e bioantropólogo Walter Neves; e o “Archaeological Theory: An Introduction”, do arqueólogo Matthew Johnson.
Ser humano x natureza
Aparentemente inspirado pelas colocações de Thomas Hobbes sobre o estado de natureza da humanidade, Harari coloca que os seres humanos são naturalmente destruidores, letais e violentos e que o controle desse ímpeto destruidor se dá por meios de estruturas sociais como cidades e Estado (o que, segundo ele, só foi possível devido ao desenvolvimento da agricultura). Esse posicionamento está presente em diversos pontos do livro, mas é mais detalhado no capítulo 4 (O Dilúvio).
Nele, Harari aborda a suposta trilha de aniquilação da biodiversidade deixada pelos humanos ao longo da ocupação dos continentes, mais especificamente a Oceania e as Américas. Aqui se observa que o autor é tão ignorante a respeito de paleontologia e ecologia quanto o é quando se trata de arqueologia. No caso das Américas, o autor coloca a extinção da megafauna na conta da humanidade, o que não poderia estar mais errado. Ainda que haja evidências de que alguns grupos humanos caçavam enormes mamíferos, essa caça era restrita a algumas regiões e não era intensa ao ponto de causar extinção dessas espécies. Inclusive, a principal caça dos primeiros grupos humanos a ocuparem as Américas eram mamíferos de pequeno e médio porte. Na realidade, a extinção da megafauna está associada às mudanças climáticas e ambientais ocasionadas pelo fim da última Era do Gelo, que criaram ambientes aos quais esses grandes animais não estavam adaptados e por isso não conseguiram sobreviver.
O mesmo vale para a Oceania. Para se ter uma ideia, cerca de 69% das espécies de animais da região já não existiam quando os humanos chegaram ao continente por volta de 50 mil anos atrás. Além disso, são poucas as evidências de contato entre humanos e megafauna no continente (só há 2 sítios registrados que apontam contato entre humanos e megafauna) e tais evidências não apontam que humanos causaram a extinção dessas espécies. O quadro que melhor explica a extinção da megafauna no continente oceânico é similar ao caso das Américas: mudanças ambientais causadas por alterações climáticas ocorridas ao fim da última Era do Gelo.
Ademais, é importante destacar que a chegada de humanos pode ter atuado como um fator estressante na extinção dessas espécies, mas devido à competição por recursos dada as condições ambientais da região na época (boa parte da região era árida, com baixa disponibilidade de água-fresca e baixo índice pluviométrico). E, contrariando o exposto em Sapiens, as evidências oriundas de pesquisas arqueológicas e paleontológicas (referenciadas ao fim do texto) apontam que não houve caça exacerbada da megafauna por humanos e que os humanos não foram o fator principal da extinção desses animais.
É no fim do capítulo que se torna claro o objetivo de toda a narrativa de colocar a destruição da biodiversidade e do meio natural como algo intrínseco da humanidade. Harari usa essa naturalização para tentar amenizar a culpa do sistema capitalista na destruição ambiental causada pela exploração desenfreada de recursos naturais. Dessa forma, o autor induz o público a concluir que a poluição ambiental e demais mudanças climáticas que causam extinções de diversas espécies estão associadas a algo que remete à própria condição do ser humano, e não de um modelo que se baseia primordialmente na exploração de tudo e de todos.
O problema do livro a respeito da relação entre os humanos e a natureza não para aí. O autor retrata os humanos como tendo dominado a natureza, exercendo poder sobre ela, e também alcançado o topo da cadeia alimentar. Um exemplo dessa dominação está no trecho “A Revolução Industrial criou novas maneiras de converter energia e produzir bens, em grande medida libertando a humanidade de sua dependência do ecossistema que a rodeia” (pág. 370). Nada disso condiz com a realidade. Se observarmos a história recente, podemos ver como esse posicionamento de Harari está equivocado. Só nesses últimos anos, sofremos diversos impactos políticos, sociais e econômicos por causa das mudanças climáticas (que nós mesmo causamos), e um vírus causou uma pandemia que já afetou quase 700 milhões de pessoas e matou cerca de 7 milhões até o momento. Nós não dominamos a natureza.
Aliás, a visão de “dominar a natureza” está intimamente associada à outra também presente nas páginas de Sapiens: que superamos a natureza e não fazemos mais parte dela. Essa ideia está ligada ao discurso de progresso técnico-científico existente em Sapiens, em que, por meio da ciência, os humanos são observadores externos capazes de desvendar de forma objetiva os mecanismos da natureza e, consequentemente, manipulá-la a seu bel prazer.
A ideia de que dominamos a natureza e que estamos à parte dela não é exclusiva de Sapiens, ela é encontrada em diversas obras e no imaginário social. Sobre essa questão, há aqui alguns textos mais acessíveis, os quais agradecemos à Ana Arnt pela indicação: “O conceito de natureza na história do pensamento ocidental”, de Thomas Kesselring, e “Natureza e ciência moderna”, de Antonio Videira, ambos referenciados ao fim do texto.
Ciência?
Falando em ciência, essa é uma questão recorrente no livro, mas é a partir do capítulo 14 que o foco nela se intensifica. Como em todo discurso de pensadores liberais e, sobretudo, naqueles que possuem o engessamento do conceito científico em filósofos como Karl Popper, Harari assume que a ciência é um processo ocidental, europeu e que foi criado em um momento específico da história humana. Tal noção é atestada pelo uso do termo “Revolução Científica”. Essa mudança de entendimento da natureza foi pensada pelos povos que vieram posteriormente ao fato ocorrido, o que a torna anacrônica. Copérnico, Galileu e Kepler não pensavam que estavam em um momento de transformação do entendimento de mundo, muito menos que seriam parte de uma ‘revolução’. Essa noção de revolução, como processo histórico, é extremamente perigosa e excludente, uma vez que inúmeros povos antes e durante esse momento estavam desenvolvendo explicações racionais sobre a realidade. Usa-se este termo como se a ciência fosse de fato, algo único, exclusivo e que está restrito e daí deve ser expandido.
Essa é a noção ocidental de ciência, pensada para criar tecnologias, subjugar culturas e substituir outros tipos de conhecimento. Inúmeros povos desenvolveram conhecimentos diferentes ao longo de sua história, provenientes de diversas fontes e com vários usos até a atualidade. Usa aspirina? Agradeça aos indígenas da América do Norte que a descobriram de uma casca de salgueiro. Gosta de cinema? Os princípios da câmara escura foram desenvolvidos na China, Grécia e Península Arábica, de maneira independente entre 500 e quase 1500 anos antes da chamada “Revolução Científica”. Essa narrativa revolucionária tira de perspectiva o real desenvolvimento deste corpo de conhecimento em nossa própria história e na de tantos outros povos. Edgar Morin faz uma crítica contundente a esse nosso pensamento: “A racionalidade não é uma qualidade da qual a sociedade ocidental detém o monopólio.”
Ainda no contexto ocidental, a própria ideia do que é ciência e como diferenciá-la surge, na modernidade, com o filósofo Karl Popper que refina o método hipotético-dedutivo. Esta proposta foi pensada em conjunto com as ideias da relatividade de Einstein, não por acaso: a proposta de se propor uma refutação e falhar em encontrá-la é muito útil quando queremos discernir uma ideia como sendo científica ou não. Mas ela tem um problema fundamental: é extremamente limitada.
Filósofos posteriores trouxeram diferentes ideias a respeito do conhecimento científico, como era produzido, como eram as atividades do cientista e as relações internas e externas que este conhecimento e seus produtores tinham com o mundo e a sociedade. Um destes é Thomas Kuhn, que propõe o modelo de revoluções científicas para explicar como hipóteses ou teorias se fixavam na comunidade científica. E acontece que como um conhecimento humano, a ciência é profundamente dependente do seu contexto de produção. O progresso linear da ciência não é uma regra, como propôs Popper. Ao usar a física moderna como modelo para entender como a ciência era produzida, como suas idéias resistiam a testes, Popper limitou as possibilidades desse conhecimento (assim como de outros) e como ele funcionaria. Acontece que o método hipotético-dedutivo não é absoluto, a multiplicidade da realidade é tanta que uma forma de pensar não daria conta de todos os seus fenômenos.
Arqueologia e Paleontologia, as principais ciências aqui abordadas, são um exemplo. Ao lidarmos com o passado, não podemos depender do hipotético-dedutivismo. Estudar o passado depende fundamentalmente de duas coisas: Abdução, Comparação. A abdução é uma forma de pensar onde desenvolvemos diversas hipóteses e não temos uma certeza plena de sua certeza, mas nos apoiamos em o quanto ela explica o suficiente o que vemos. Pense só, se encontramos um fóssil, não temos como saber como ele foi produzido pela natureza, mas temos inúmeros indícios de como eles se formam ao observar os restos que se acumulam na natureza, daí abduzimos como eles podem ter sido criados e disso, inferirmos uma melhor explicação. Mas como não temos como ter visto ele se formar, nossa hipótese não tem como ser testada nos moldes Popperianos. Se encontramos este mesmo fóssil, uma das perguntas que podemos fazer é: “Quem é esse organismo?”. Só conseguimos responder essa pergunta com o uso do pensamento comparativo. Isso vai nos permitir analisar e identificar características que este ser possui e compará-la com outros seres a fim de saber quem ele pode ser. Outra questão fundamental de todos e quaisquer outras ciências, são as ideias e teorias a priori. Em muitos casos, se assume que o pesquisador é uma folha em branco, observando e testando a natureza sem vieses ou teorias prévias direcionando sua pesquisa. Mas na verdade, dependemos dessas premissas para pesquisar. Hoje, o grande paradigma e teoria prévia da biologia é a evolução, se bancarmos a folha em branco, perguntas como o parentesco de seres vivos sequer faz sentido se não assumimos a sua ancestralidade comum, que é uma base da teoria evolutiva. Se formos céticos quanto a estas outras formas de pensamento, estaremos negando nossa própria ciência, suas descobertas e processos, assim como as ciências de muitos outros.
Uma outra questão sobre o que o Sapiens entende por ciência está na sua associação direta com tecnologia. Aparentemente, para o autor, só é ciência se há algum avanço tecnológico. Este posicionamento desconsidera outros campos como sendo ciência, como os das ciências humanas, e, com exceção da matemática, ignora as ciências de base, que não buscam criar soluções práticas para problemas atuais, e sim obter conhecimento sobre nosso mundo em diversos contextos.
Os problemas do livro com a representação do que é ciência continuam. A escrita de Harari deixa a entender que ciência é algo neutro, puro, isolado de questões sociopolíticas. E, ainda que o livro relate o uso de invenções tecnológicas para usos destrutivos, ele não faz nenhuma conjectura a respeito desse tipo de uso (embora celebre o uso de bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, pois, segundo Harari, foi por causa dessa demonstração de poder científico-militar que a 2ª Guerra Mundial terminou).
Para tratar desse assunto, voltamos a Thomas Kuhn. Ao fazer sua proposta de revoluções científicas como proposta para explicar a superação de modelos e mudanças de paradigmas dentro deste corpo de conhecimento, Kuhn inaugura a área da sociologia da ciência. Nesse empreendimento, a ciência é analisada como um fazer humano, assim como qualquer outro. Posteriormente, esse campo se desdobra e temos a antropologia da ciência, a análise do cientista e como ele pensa, faz o que faz e o porquê dele fazer. A ciência é um fazer humano tanto quanto qualquer outro, ela não existe num vácuo sem relação com as pessoas e a sociedade onde ela é criada. Quem a financia, como a financia e porque a financiam molda quais campos são os pioneiros e quais devem ser excluídos, esquecidos ou marginalizados.
Pensando socialmente, a ciência tem amarras muito fortes em como ela deve ser conduzida e para onde ela deve ter resultados, o uso de sua ‘autoridade’ é constantemente abusado para legitimar mentiras e mesmo os cientistas se vêem pegos presos em suas pré-concepções sociais, sendo levados a favorecerem idéias e hipóteses que já justifiquem o que é dito socialmente. Inúmeros exemplos deste último compõem o excelentíssimo livro do Stephen Jay Gould: “A falsa medida do homem”. Nele o autor mostra exemplos onde as premissas de raça, racismo e eugenia moldaram as idéias dos pesquisadores e os resultados que eles chegaram confirmavam o que eles tinham como premissa. Outro livro igualmente importante em mostrar a não neutralidade da ciência é o ‘Inferior’, de Angela Saini, que fala especificamente a respeito do machismo propagado dentro da ciência e como as noções sociais afetam os resultados da pesquisa.
A idéia de uma ciência neutra, privada de viés dos cientistas como descobridores do conhecimento, portadores de um método para tudo resolver e sem ideias prévias ou premissas equivocadas, talvez seja a maior pseudociência de nossa época.
Continuando na questão sobre os problemas de representação da e na ciência, Harari reforça alguns estereótipos sobre fazer ciência e quem a faz. Por exemplo, para se referir a cientistas, ele usou termos como “Os homens de branco responderam ao chamado[…]” (pág. 279), que ao mesmo tempo traz a ideia de que cientistas trabalham em laboratórios (devido ao jaleco branco que é um dos equipamentos de proteção obrigatórios em laboratórios que lidam com materiais perigosos e/ou sensíveis) e que só homens podem ser cientistas, o que é um ultraje. Aliás, essa infeliz representação de que cientistas são homens de jaleco branco está amplamente presente no imaginário social, como apontam diversas pesquisas realizadas com estudantes em diferentes estágios do ensino, desde o fundamental até a graduação universitária, pesquisas essas referenciadas ao fim do texto.
Outro estereótipo trago por Harari é de que fazer ciência é algo difícil e que poucas pessoas são capazes disso, como aponta o trecho:
“A maioria das pessoas acha difícil absorver a ciência moderna porque sua linguagem matemática não é facilmente apreendida por nossa mente e suas descobertas com frequência contradizem o senso comum. Dos 7 bilhões de pessoas no mundo, quantas de fato compreendem a mecânica quântica, a biologia celular ou a macroeconomia?” (págs. 277-278)
Aqui Harari demonstra mais uma vez seu desconhecimento sobre o ambiente científico e reforça a barreira de que ciência é para poucos. Acontece que qualquer pessoa pode ser cientista e não é necessário ser genial para isso. Basta ter curiosidade, interesse em alguma área e, principalmente, acesso à educação e às condições materiais que permitam ingressar numa carreira dentro da ciência de sua escolha, algo que deveria ser direito de todas as pessoas e não um privilégio de poucos. Por fim, na ciência, existem pessoas de todos os tipos, gostos, esferas sociais e personalidades. Aqui, reforçamos, qualquer pessoa pode ser cientista.
Para terminar esta seção, é importante abordar o último capítulo do livro, intitulado “O fim do Homo sapiens”. Nele, Harari trata do que poderia ser o futuro da nossa espécie em termos de evolução guiada por avanços nas áreas de engenharia genética, robótica e computação. O problema deste capítulo é que ele flerta com a eugenia, principalmente na seção “O retorno dos neandertais”. Ali, Harari fala sobre a manipulação do genoma humano e do uso de outros tipos de engenharia biológica para estender a vida humana, curar doenças, melhorar capacidades intelectuais e emocionais, entre outras. O autor aborda essas questões sem elaborar sobre os problemas éticos que elas geram. Pior, ele as coloca como um entrave inconveniente ao dizer que “[…] não parece existir nenhuma barreira técnica insuperável que nos impeça de criar super-homens de maneira superficial. Os maiores obstáculos são as objeções éticas e políticas que tornaram mais lentas as pesquisas envolvendo humanos” (pág. 425). O curioso deste texto é que, mesmo se os leitores discordarem da visão de uma ciência humana, falha, enviesada e que perpetua os preconceitos de seus produtores, podem observar um problema sério aí: O livro diz que a ciência nos oferece respostas sobre a nossa realidade e que ela não porta a ética do uso de determinadas tecnologias e mesmo suas consequências, sendo isso algo a ser discutido para além da possibilidade de uma realização. Falar de debates éticos como obstáculo ao desenvolvimento é algo pernicioso e, num livro de tamanho impacto, de grande irresponsabilidade.
Ademais, o tipo de manipulação biológica descrito em Sapiens pode dar brechas para criação de políticas discriminatórias de superioridade genética, limitando assim o acesso à educação, trabalho, assistência médica e ampliando as desigualdades sociais. Portanto, a defesa de qualquer prática que leve à eugenia é bem problemática e antiética. Infelizmente, o Sapiens não parece ver muito problema nisso.
“Como é bom o imperialismo”
A época do imperialismo europeu foi uma das mais sombrias da história, pois gerou impactos negativos que estão presentes até hoje nas diversas sociedades humanas, no meio ambiente e na vida de várias espécies de plantas e animais. Espécies foram extintas, ambientes inteiros foram intencionalmente degradados ou destruídos, povos inteiros foram exterminados, oprimidos e escravizados. O legado do imperialismo europeu é o terror.
Apesar disso, o imperialismo quase chega a ser glorificado em Sapiens. Segundo Harari, tamanho rastro de destruição e horror trouxe pontos muito positivos para a humanidade porque “as elites imperiais usavam os lucros da conquista para financiar não apenas fortificações e exércitos, mas também filosofia, arte, justiça e caridade” (pág. 211). O autor vai além e ousa dizer que “uma proporção substancial das conquistas culturais da humanidade deve sua existência à exploração dos povos conquistados” (pág. 211). Essa é uma visão eurocêntrica da humanidade e de sua história, visto que se pode dizer que os únicos Estados que se beneficiaram com essas ações foram os europeus. O enriquecimento dos Estados europeus por meio da exploração de outras sociedades é um dos maiores roubos da história.
Não há argumentos válidos que justifiquem as atrocidades cometidas pelo imperialismo europeu. Como pode ter havido conquistas culturais a partir da destruição de sociedades humanas inteiras? Não foram apenas pessoas que morreram, mas também diversos modos de vida e de organização social, formas de enxergar o mundo e de se expressar. Culturas inteiras foram perdidas.
Ademais, não há como dizer que foi financiada qualquer justiça pelo imperialismo europeu, visto as atrocidades cometidas por ele. Que justiça é essa que comete genocídio, escraviza pessoas, rouba riquezas, promove fome e condições precárias de vida?
Não faltam livros que relatam o horror do legado imperialista, um dos fundamentais sobre a temática é o “Discurso sobre o Colonialismo” de Aimé Césaire, pioneiro na temática. Foi poeta e importante representante da Martinica enquanto ainda era território francês, e seu trabalho denuncia de maneira irônica e ácida as atrocidades contidas no processo de colonização, desde o apagamento de culturas até genocídio. Seu trabalho ainda se mantém atual no debate sobre colonização, escravidão e imperialismo, sendo uma leitura obrigatória no assunto. E focando em nosso continente, recomendamos a leitura de “As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano. Ali se pode ver um pouco do quão “bom” o imperialismo era.
Por fim, além desses pequenos trechos citados, o autor dedica mais algumas páginas (e um capítulo inteiro) para trazer argumentos falaciosos e fatos distorcidos a respeito dessa ideologia. Por exemplo, Harari diz que o imperialismo é uma consequência da natureza da nossa espécie (pág. 214), que ele foi tão bom que foi um dos fatores responsáveis pela propagação da noção de direitos humanos nas nações conquistadas (págs. 219-220), que é impossível escapar do ideal imperialista e que hoje vivemos sob um novo tipo de império global muito bom, o capitalismo (págs. 220-225).
A defesa ao capitalismo
Toda obra é escrita a partir de um viés e isso é perfeitamente normal e aceitável. Ainda, independente do teor do conteúdo, espera-se que os argumentos expostos sejam coerentes e condizentes com fatos e evidências. Os pontos abordados ao longo desse texto (e os diversos outros que não couberam na crítica) mostram que esse não é o caso de Sapiens.
Tudo apresentado no livro converge para um ponto: a defesa do sistema capitalista. E é uma defesa fraca, que faz uso de distorções da realidade, argumentos falaciosos e mentiras para celebrar tal sistema.
Durante o livro, Harari traz argumentos que induzem a acreditar que o sistema capitalista é o ápice da humanidade; que ele é responsável pelo avanço técnico-científico; que colocam o capitalismo como sendo algo inescapável (e olha que tem um capítulo inteiro criticando determinismo histórico! Vá entender.); que atacam de forma descontextualizada sistemas alternativos ao capitalismo; que buscam amenizar os danos, opressões e atrocidades cometidas pelo capitalismo; e que buscam transferir a culpa dos absurdos do sistema capitalista, como pobreza, violência e destruição, para a natureza humana (a parte da destruição ambiental durante a expansão territorial dos humanos há milhares de anos é um desses casos).
A partir desses pontos fica claro que Sapiens não conta a história da humanidade e muito menos é uma obra de divulgação científica popular. O livro distorce a história da nossa espécie, se utiliza de argumentos falsos e ameniza os impactos do imperialismo e da busca do lucro por meio da exploração de tudo e de todos para contar uma história (falsa) de que todos os caminhos possíveis levam ao sistema capitalista e que ele é benéfico à humanidade. Em sua essência, Sapiens é nada mais que uma ode rasa ao capitalismo.
Referências
– Seção “A ideia de progresso”
GRAEBER, D.; WENGROW, D. O despertar de tudo: uma nova história da humanidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
TRIGGER, B.G. História do pensamento arqueológico. 2ª edição. São Paulo: Odysseus, 2004.
– Seção “A ignorância sobre a arqueologia”
GASPAR, M.D. Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro.
GRAEBER, D.; WENGROW, D. O despertar de tudo: uma nova história da humanidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
JOHNSON, M. Archaeological Theory: An Introduction. 2ª edição. Wiley Blackwell, 2010.
TRIGGER, B.G. História do pensamento arqueológico. 2ª edição. São Paulo: Odysseus, 2004.
– Seção “Ser humano x natureza”
FIELD, J.; WROE, S.; TRUEMAN, C.N.; GARVEY, J.; WYATT-SPRATT, S. Looking for the archaeological signature in Australian Megafaunal extinctions. Quaternary International, 285:76-88, 2013.
KESSELRING, T. O conceito de natureza na história do pensamento ocidental. Episteme, 11:153-172, 2000.
LOPES, R.P.; PEREIRA, J.C.; KERBER, L.; DILLENBURG, S.R. The extinction of the Pleistocene megafauna in the Pampa of southern Brazil. Quaternary Science Review, 242:1-23, 2020.
PRADO, J.L.; MARTINEZ-MAZA, C.; ALBERTI, M.T. Megafauna extinction in South America: A new chronology for the Argentine Pampas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 425:41-49, 2015.
SALTRÉ, F.; CHADOEUF, J.; PETERS, K.J.; MCDOWELL, M.C.; FRIEDRICH, T.; TIMMERMANN, A.; ULM, S.; BRADSHAW, C.J.A. Climate-human interaction associated with southeast Australian megafauna extinction patterns. Nature Communications, 10(5311), 2019.
VIDEIRA, A.A.P. Natureza e ciência moderna. Ciência & Ambiente, 28:121-134, 2004
WROE, S.; FIELD, J. A review of the evidence for a human role in the extinction of Australian megafauna and an alternative interpretation. Quaternary Science Reviews, 25(21-22):2692-2703, 2006.
– Seção “Ciência?”
CHALMERS, A. F.; FIKER, R. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1997.
GOULD, S. J. A Falsa Medida do Homem. 3a. ed. [s.l.] WMF Martins Fontes – POD, 2014.
KOMINSKY, L.; GIORDAN, M. Visões de ciências e sobre cientista entre estudantes do ensino médio. Química Nova na Escola, São Paulo, 15:11-18, 2002.
LATOUR, B.; IRINEU, C. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simetrica. São Paulo: Editora 34 Ltda, 2019.
MELO, J. R.; ROTTA, J. C. G. Concepção de ciência e cientista entre estudantes do ensino fundamental. IN: XV Encontro Nacional de Ensino de Química, Brasília, DF, Brasil, 2010. Retirado em 03/03/2023, de: http://www.sbq.org.br/eneq/xv/resumos/R0215-1.pdf
MORIN, E. Ciência com consciência. Rio De Janeiro (Rj): Bertrand Brasil, 2010.
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo ; Brasília, Df Cortez: Unesco, 2011.
REIS, P.; RODRIGUES, S.; SANTOS, F. Concepções sobre os cientistas em alunos do 1º ciclo do Ensino Básico: “Poções, máquinas, monstros, invenções e outras coisas malucas”. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciências, Pontevedra, 5(1):51-74, 2006. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/handle/10451/4618
SAINI, A. Inferior: how science got women wrong – and the new research that’s rewriting the story. London: 4Th Estate, 2018.
ZANON, D. A. V. & MACHADO, A. T. A visão do cotidiano de um cientista retratada por estudantes iniciantes de licenciatura em química. Ciências & Cognição, 18(1): 46-56, 2013. Recuperado em 03 de março de 2023, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212013000100004
– Seção “Como é bom o imperialismo”
CÉSAIRE, A. Discurso sobre o Colonialismo. São Paulo: Veneta, 2020.
GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: L&PM, 2020.
Publicado originalmente no site Arqueologia e Pré-História.