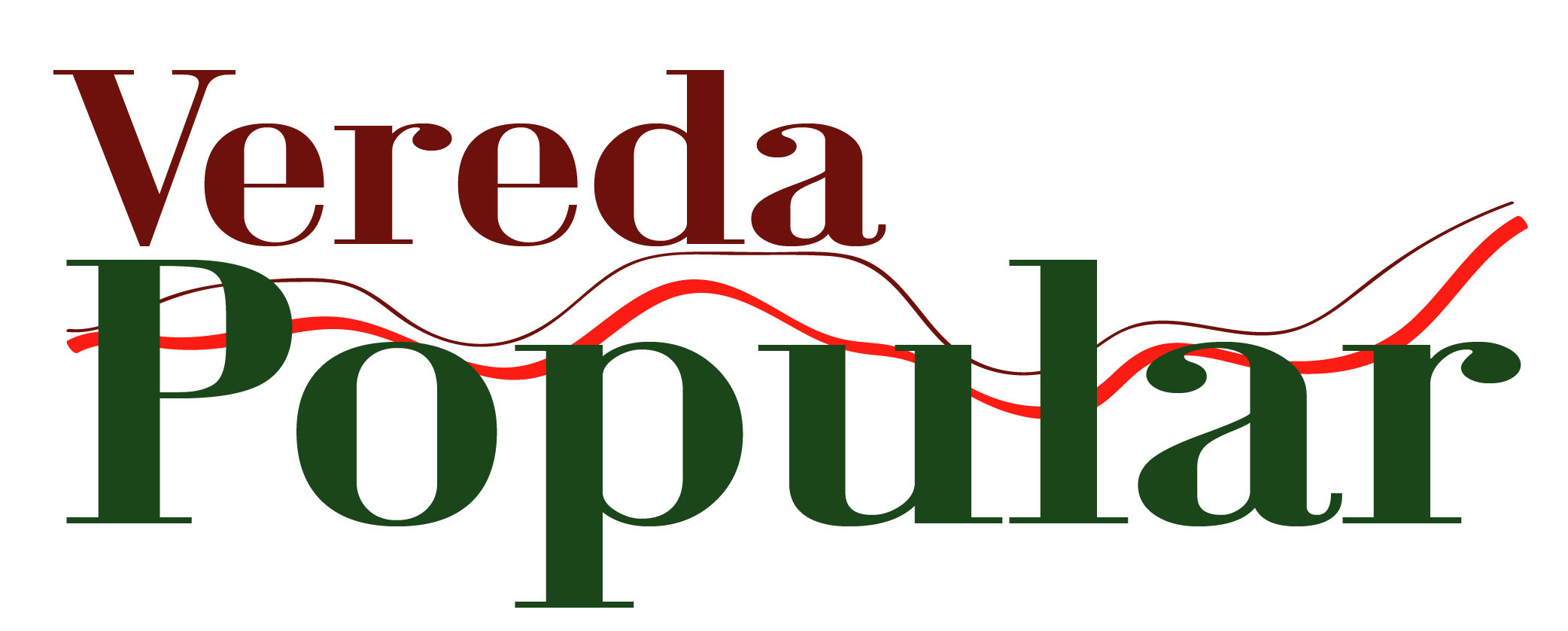O portal Vereda Popular continua publicando a Linha Sindical do Partido da Refundação Comunista (PRC), aprovada no Ativo Nacional Sindical e depois ratificada pelo Comitê Central. Segue o Capítulo X.
X – O Direito do Trabalho e seu lugar na luta de classes
Considerando-se a gigantesca presença do proletariado na formação econômico-social brasileira, o autismo intelectual ante o mundo do trabalho e a ilusão no fim da “sociedade do trabalho” expressam duas vertentes. À esquerda, o ingênuo desejo de liberdade absoluta que conformista ou crítico renasce no estupor e na angústia estimulados pela derrota momentânea do movimento operário e pela permanência da “servidão” assalariada em sua face mais bárbara e destrutiva. À direita, o malicioso propósito de suprimir – pelo elogio ao empirismo – a representação genérica da classe que, segundo Marx, “tenha cadeias radicais”, a própria seara social “onde existe a possibilidade positiva de emancipação”. Tais são os valores que distinguem, no campo da confusa sensibilidade pós-moderna, que tenta assassinar o sujeito coletivo, a ilusão libertária – generosa, mas inconsequente – do ultraliberalismo, conservador.
Não se justificam, portanto, os fundamentos e as conclusões alegadas por tais variantes, especialmente, a quimera de se realizar, no capitalismo, a dissolução do trabalho abstrato e, no processo civilizatório como conjunto, a perdição do trabalho concreto. Por mais que a reação burguesa deseje superar ou enterrar o próprio Direito do Trabalho, seus fundamentos histórico-sociais continuarão existindo enquanto houver capital. Permanecem atuais, não só a defesa dos benefícios sociais e políticos dos trabalhadores assalariados, frutos de longos e árduos combates que mobilizaram várias gerações, como também a luta presente por reformas que materializem novas conquistas.
O contencioso capital versus trabalho só poderá terminar em uma época para além da sociabilidade alienada, o que recoloca o problema teórico e prático da revolução social. Justifica-se, em termos de objetivos históricos mais gerais, o propósito humano-universal de abolir a face perversa da práxis produtiva – o trabalho abstrato – e, como corolário, as próprias noções de proletariado e burguesia. Somente nessa perspectiva, como proclamou Marx, “o tempo livre que tanto é tempo para o ócio como tempo para atividades superiores” poderá, no futuro, transformar “o seu possuidor […] em outro sujeito”. Semelhante tarefa está além da capacidade e dos objetivos do movimento sindical, que, todavia, tem um relevante e insubstituível papel a cumprir na luta de classes.
O Direito, como arcabouço legiferante e disciplina intelectual – desde seu surgimento, nas primeiras formações humanas dilaceradas em conflitos de classe –, é uma espécie de relação social historicamente constituída, que traduz, cristaliza, organiza e disciplina, na esfera das ações legais e normativas do Estado, em última instância, as necessidades e os interesses imanentes ao modo de produção dominante em cada época. Em vez de serem criados pela volição política autodeterminada de indivíduos ou agrupamentos – a partir de situações subjetivas presentes na consciência, de categorias apriorísticas ou de contratos soberanos entre sujeitos iguais, como querem as teorias burguesas de vários matizes –, os princípios e regras jurídicas surgem, desenvolvem-se, exprimem ideologias, referenciam moralidades e se tornam parâmetros coercitivos na práxis social concreta.
Nesse terreno peculiar e modo de ser específico, em que jamais pode existir, ontologicamente, a pacífica unidade universal quanto aos fins, prepondera o contencioso em formas elaboradas e objetivadas, bem como se encontram estreitamente ligados o direito e o arbítrio, dois conceitos excludentes no senso comum e nas doutrinas jurídicas metafísicas. Todavia, lembrando Marx, “O Faustrecht (o direito do mais forte) é igualmente um direito.” A paz social passa a ser uma necessidade relevante para os “de cima” somente quando a troca se torna um fenômeno regular, com base em seus equivalentes universais, e começa a se determinar, no alvorecer do capitalismo, na própria intimidade do modo de produção, em que o valor de uso se torna precipuamente mercadoria e gera o mercado.
No metabolismo da sociedade atual, os interesses e relações que enlaçam os bens com valores de troca equivalentes se nucleiam pela contradição entre dois campos antagônicos – os possuidores de capital e os detentores da força de trabalho. Nesse ambiente, agem sujeitos atomizados, pois carecem de uma racionalidade social, egoístas, pois se encontram atados ao puro cálculo econômico, e objetivados, pois hospedam suas vontades nas coisas. Ademais, quando vige a produção precípua e universal de mercadorias, o centro articulador específico do arcabouço legal se localiza nas relações privadas, razão pela qual o sujeito jurídico das teorias sobre o direito se ligou, intimamente, à figura do moderno proprietário. Eis por que Engels vinculou o princípio burguês da igualdade à lei do valor, tal como vige no modo de produção e na formação econômico-social capitalista.
Para que os bens, na sociabilidade do capital, estabeleçam contatos mútuos entre si na condição de valores de troca, os agentes econômicos – não importa se dominantes ou subalternos – precisam comportar-se como pessoas independentes e iguais, expressando, na sua totalidade, uma única e mesma relação social. O espaço jurídico, ao se tornar um assunto inevitável entre sujeitos fenomenicamente reconhecidos, dos mais simples aos mais complexos, permite que o poder político genérico ouse opor-se ao poder econômico pessoal e que, por consequência, a forma da lei possa impor-se à sociedade civil. Assim, como notou Marx, surge “A constituição do Estado político mediante a decomposição da sociedade burguesa em indivíduos independentes, cujas relações são regidas pelo direito”.
O propósito político-prático da mediação jurídica é a concessão de garantias inelutáveis à marcha, mais ou menos direta e clara, da produção e reprodução da economia e da vida social que, na sociedade burguesa, quando formalizadas, operam por meio de contratos. Tal fundamento faz o direito se constituir como algo além de meras ideologias e moralidades. Portanto, comportando-se de maneira semelhante à riqueza, que se traduz em superlativo acúmulo de bens e capitais, a sociedade de classes se apresenta como teia ininterrupta e abrangente de relações jurídicas objetivas, que vincula entre si os fatos econômicos empíricos e as mercadorias celulares, inclusive a força de trabalho humana, superando suas condições de simples unidades privadas e isoladas.
O desenvolvimento superior do pensamento jurídico, ao abranger a relação dialética entre conteúdo e forma, mesmo quando envolta e mistificada em arcabouços metafísicos, exige a elaboração de enunciados abstratos e gerais. Eis por que o Direito sempre remete a referências normativas que, por óbvio, só podem ser cientificamente apropriadas na angulação de uma perspectiva histórica concreta, embora nem sempre tal aconteça. Nos próprios fundamentos ontossociais das comunidades humanas e na sua reprodução metabólica residem o nascimento e a transformação da forma jurídica, que, na sociabilidade burguesa, unifica os diferentes rendimentos do trabalho não apenas segundo o critério da troca equivalente, como também conforme as relações de classe entre os proprietários dos meios de produção tornados capital e os titulares da força de trabalho livre.
O Direito se evidencia, pois, não como atributo de uma suposta comunidade humana abstrata, mas como fato pertencente ao domínio político, por sua vez correspondente a formações econômico-sociais determinadas. Os princípios formais da subjetividade jurídica moderna – liberdade, igualdade, autonomia, personalidade e assim por diante – adquirem importância sobredeterminada no capitalismo: edificados sobre a oposição entre interesses privados, são também, além de representações ou ideações mais ou menos dissimulatórias e hipócritas, vetores objetivos que acompanham o desenvolvimento da economia e que, em sua ação de retorno, interferem juridicamente nas relações humanas.
A subjunção do trabalho ao capital, que atingiu a maturidade formal e avançou velozmente na sua esfera real durante a chamada revolução industrial, com a expansão do modo de produção caracteristicamente capitalista – notadamente na Europa e nos EUA – ampliou em muito as fileiras do proletariado, gerou a contemporânea questão sociolaboral e tornou imprescindível a readequação das instituições jurídicas à nova realidade. Em um primeiro momento, a relação capital-trabalho foi regulada pelo próprio direito civil, que se baseava na presunção de igualdade entre as partes e, pois, de liberdade na contratação – expressões formais da prévia, absoluta e mitológica autonomia da vontade –, bem como no corolário liberal-clássico de que o Estado deveria manter-se exteriormente às relações econômicas, só agindo em domínios limitados e nos momentos críticos.
Todavia, no século XIX, a multiplicação e a complexificação do mundo do trabalho, faces emergentes na decomposição da sociedade civil em indivíduos independentes, exigiram do próprio Estado uma resposta mais especializada. A filosofia burguesa do Direito, cujo fundamento é a categoria do sujeito apetrechado com sua incondicionada capacidade autodeterminativa, passou a estabelecer as condições mais gerais para se efetuarem a compra da força laboral pertencente a seres humanos livres. Nesse nível elementar, tal disciplina ainda permanecia como ideologia e, no máximo, como simples dispositivo jurídico dedicado a regular o modo de produção em sua justificação moral, seu funcionamento geral e sua estabilidade cotidiana. O Estado apenas ditaria as regras da ordem econômica exploradora e fixaria os parâmetros da coerção em prol de sua permanência e seu desempenho.
Todavia, em determinado momento de sua história e conforme as condições sociais encontradas, o poder institucional burguês precisou também promover ações públicas direcionadas ao fim de zelar pelo trabalho como bem mercantil e capacidade produtiva especial, de primeira grandeza e à sua disposição, cuja existência e reprodução se havia tornado imprescindível para o capital como conjunto. Eis por que a política e, especialmente, as leis, o arcabouço jurídico, a administração pública e os serviços básicos não mais poderiam depender apenas dos critérios e cálculos sempre egoístas, corporativos e anárquicos de cada patrão individual. O liberalismo encontrava, pois, limites práticos.
Surgiram assim as condições histórico-sociais para a mitigação do suposto “contrato livre”, processo que serviu ainda para sustentar a hegemonia em face do movimento operário emergente – inclusive para se precaverem das críticas revolucionárias à ideologia burguesa quanto à parcialidade e à formalidade da liberdade, da igualdade e da democracia –, especialmente quando a república do mercado procurava mascarar a exploração capitalista, o despotismo no interior da empresa e as determinações materiais que constrangem os seres humanos reais. As conquistas e direitos trabalhistas – sejam arrancados imediatamente ao Estado por meio de lutas, sejam antecipados por cima como instrumento para se prevenirem crises iminentes ou se tratarem as crônicas – se tornaram possíveis nas brechas da forma jurídica.
O movimento sindical já nasceu enfrentando o dilema que o persegue até hoje. A mera defesa dos fundamentos abstratos da ordem jurídica especializada no trabalho não passaria de submissão à forma mais geral assumida pelos interesses coletivos da classe dominante perante os proletários, afinal reconhecidos como sujeito jurídico que dispõe de sua força criadora como mercadoria. Entretanto, apropriar-se intelectualmente da forma juridicamente mediada, por fim adotada pela relação econômico-social de exploração, é fundamental para se conscientizar quanto ao caráter da superestrutura estatal erguida pelo Direito do Trabalho e para, sempre que possível, usá-la em seu benefício, como fenômeno objetivo universal que incide na vida cotidiana e na luta de classes.
Na Europa, as “leis sociais” debutaram no século XIX, quando começaram a limitar a chocante superextração de mais-valia absoluta sobre mulheres e menores. Por seu turno, o crescimento de associações operárias, a repercussão das jornadas revolucionárias de 1848 e o assombro causado pela Comuna de Paris deixaram certos saldos de liberdade sindical. Contemporaneamente à II Internacional, a Conferência de Berlim, em 1890, e a Encíclica Rerum Novarum, em 1891, recomendaram algumas reformas trabalhistas, mas a emergência do capital monopolista-financeiro e o agravamento dos conflitos imperialistas as retiraram da pauta burguesa. Já no século XX, perante a vitória da Revolução de Outubro, o fim da I Guerra Mundial e o alargamento na margem estatal de manobras com a expansão econômica do 3º Kondratieff, os direitos trabalhistas voltaram à baila e adentraram o constitucionalismo republicano no México, 1917, e em Weimar, 1919. Após a II Guerra Mundial, com o contraponto socialista e a nova fase de bonança, setores consideráveis do capital acolheram o Welfare State.
No Brasil-Império, a formação econômico-social escravista interditou qualquer forma jurídica universal destinada a disciplinar a força laboral livre, embora a Constituição de 1824 – seguindo os princípios liberais – a tivesse mimetizado abstratamente pela abolição das corporações artesãs. Sob a República, a marcha da apropriação formal do trabalho pelo capital, especialmente nas grandes cidades, foi gerando as primeiras leis regulatórias: certa liberdade associativa prevista constitucionalmente em 1891, a proibição do trabalho infantil até 12 anos e o limite de sete horas na jornada para crianças até 14 anos. A seguir, nas primeiras três décadas do século XX, o Código Civil passou a regular a relação de emprego, enquanto algumas leis específicas versaram sobre acidentes do trabalho, caixa de aposentadoria ou pensões para ferroviários, férias anuais e tribunais rurais.
Somente após a conclusão, em seus traços fulcrais e decisivos, do longo, complexo e peculiar processo da revolução burguesa no Brasil, em 1930, e já em plena Fase B ou depressiva da 3ª onda longa do capitalismo, o Governo Vargas, imbuído de um projeto nacional a meio-pano e procurando inserir passivamente o mundo do trabalho no esforço de industrialização, procedeu à ampliação e à sistematização das normas laborais. Os doutrinadores liberais e seus seguidores da academia, da mídia e dos parlamentos, no afã de atacarem, desmoralizarem e enfraquecerem os direitos trabalhistas, afirmam que sua origem se deve a certa ideologia de outorga “populista” e “corporativa”, simplesmente instaurada em uma volição de cima para baixo, que as teria marcado com o artificialismo.
Todavia, as leis trabalhistas instituídas no Governo Vargas, em vez de benesses desinteressadas e generosas de um regime ditatorial, são políticas do Estado burguês ainda frágil, que, imerso em uma formação econômico-social com forte presença oligárquica, grandes clivagens regionais e reprodução difusa de capitais, tentava construir uma base social entre as massas urbanas. Ademais, a cantilena elitista da intelectualidade conservadora mal disfarça a intenção de ocultar – pretextando incompatibilidades com modelos ideais e supostos atrasos no nível de consciência – a importante participação proletária nas lutas populares ocorridas nas primeiras décadas do século XX, com suas peculiaridades.
Em especial, as greves gerais de 1917 a 1920 – que mobilizaram multidões no RJ, SP, MG e outros Estados –, assim como as manifestações reprimidas durante o Governo Artur Bernardes, pesaram na implantação do Direito do Trabalho, inoculando na forma jurídica a dimensão de conquista e de brecha para demandas sindicais, mesmo que tolhidas por óbices ideológicos e limites institucionais. A Constituição de 1934, primeira no Brasil a dispor sobre normas específicas do direito trabalhista, como o salário mínimo, a jornada de 8 horas, as férias, o repouso semanal e a liberdade sindical, orientou derivações futuras como a indenização por despedida injusta, a organização da Justiça do Trabalho e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 –, em que pese o retrocesso de 1937, com a expressa intervenção do Estado nos sindicatos e a proibição da greve.
Já no regime de república constitucional e no alvorecer do 4º Kondratieff – início de sua Fase A ou expansiva –, a Carta Magna de 1946 reestabeleceu o direito de greve, instituiu a remuneração do repouso semanal, instaurou a estabilidade decenal e retirou a Justiça do Trabalho da órbita executiva do Estado, imprimindo-lhe certa autonomia em relação aos governos. Assim, abriram-se caminhos para novas conquistas, como a gratificação natalina. Trata-se de uma resposta política da burguesia à expansão quantitativa do proletariado e ao processo de subjunção real do trabalho ao capital, intrínsecos ao surto de industrialização havida nos anos 1950, assim como fortalecimento da organização sindical, que exigiram novas mediações e também impulsionaram o movimento popular por reformas.
Por seu turno, após 1964, o ataque do regime castrense ao movimento sindical – frontal desde o primeiro dia e terrorista na sequência do AI-5 – preferiu postergar o fim de alguns direitos legais, retirando-os a contagotas e por meio de manobras mediadas. No entanto, foi direto quando eliminou a estabilidade no emprego e o direito de greve. O Governo Castello Branco anunciou a extinção do imposto sindical, mas teve que ceder à resistência generalizada, mudando seu nome para “contribuição”. Não titubeou, porém, ao proibir a greve por meio da Lei nº 4.330, de 1964, medida aprofundada nos Decretos-Leis nos 229, de 1967, e 1.682, de 1978. Em 1965, implantou o arrocho salarial, com a Lei nº 4.725 forçando reajustes abaixo da inflação. Eliminou a estabilidade empregatícia, um direito fixado na CLT, camuflando tal supressão com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O Governo Geisel tentou adaptar a CLT aos cânones do que os golpistas denominavam “Movimento Cívico-Militar de 31 de Março de 1964″.
A falência do regime ditatorial e o fim da longa noite repressiva permitiram que a CF, em 1988, valorizasse os direitos coletivos e sociais, especialmente no seu artigo 7º. Destacam-se a instituição formal da liberdade sindical, a jornada semanal de 44 horas, a generalização do FGTS, a indenização por demissão sem justa causa, o adicional para hora-extra de no mínimo 50% sobre a remuneração normal, as férias de um terço, a licença gestante de 120 dias, a licença paternidade e a idade mínima de 14 anos para trabalho, aos quais veio somar-se a Emenda Constitucional nº 72, de 2013, equiparando os empregados domésticos aos demais assalariados. No conjunto, o arcabouço legal construído nos últimos 100 anos é, no conteúdo, ideológica e institucionalmente burguês. Na forma jurídica, porém, apresenta contradições que, paralelamente aos dispositivos draconianos de controle e coerção, coagulam e regulam alguns direitos e conquistas históricas do proletariado.
O Direito do Trabalho, pelo menos em seu formato no Brasil, pode ser conceituado como ramo do direito público cujo objeto é o conjunto de princípios, regras e instituições jurídicas destinadas a justificar, disciplinar e garantir, como partes integrantes do Estado burguês, as relações laborais no modo de produção caracteristicamente capitalista e nas situações que lhe sejam eventualmente equiparáveis, fixando assim os sujeitos contratantes – dominantes e subordinados ou patrões e empregados, com seus deveres e direitos precisamente delineados –, bem como as organizações administrativas destinadas a manter a força de trabalho em suas estruturas, atividades, valorações e reproduções societárias, na sua condição de mercadoria essencial ao modo de produção vigente.