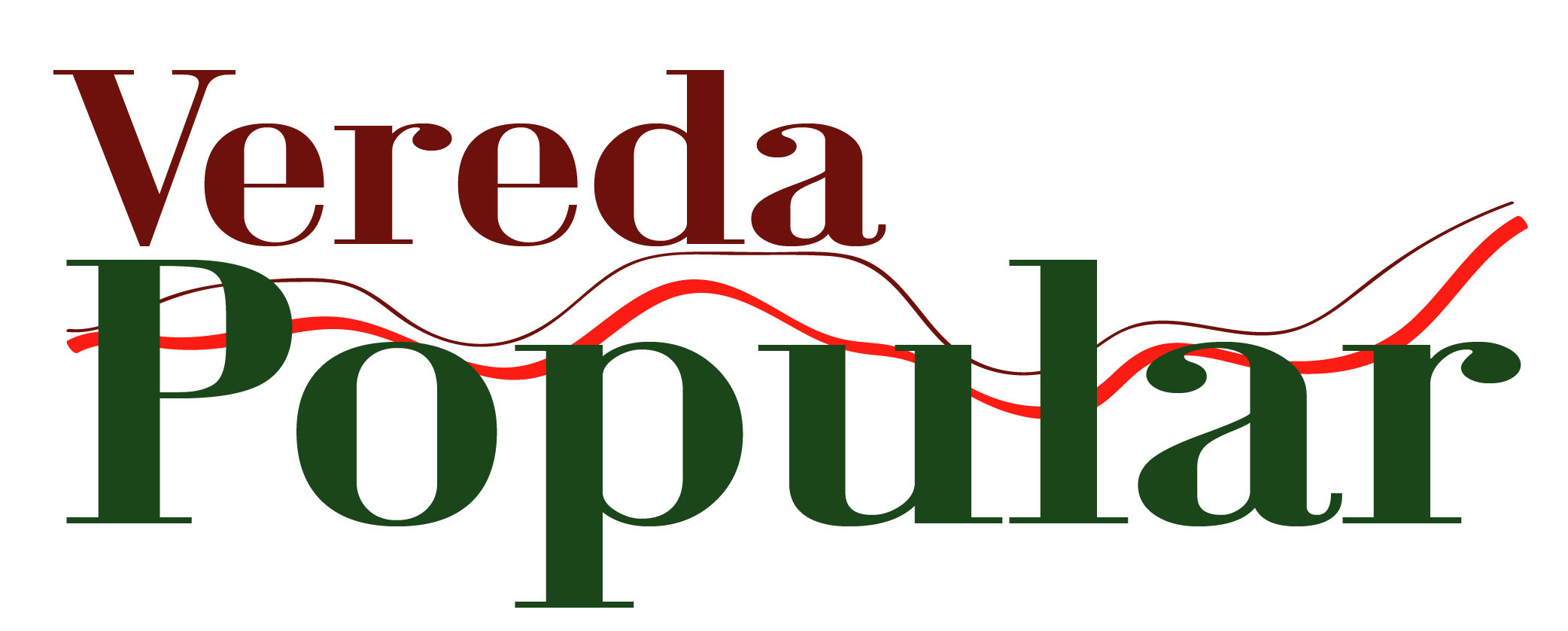João Almeida e Silva*—
Descobrir-se negro num mundo racista é uma dor e tanto, você entende? Ainda mais quando quem o descobre é uma criança de nove anos. Pior ainda quando nesse menino foi incutida a ideia de que pertencia a uma paleta de cores que, se não lhe assegurava o status de branco, pelo menos lhe assegurava certa proximidade com a tal da morenice, seja lá o que isso for, desde que sirva para fugir do carimbo de negro, esse um mal a ser evitado.
Filho de mãe branca e pai negro, primos e filhos de pais brancos de olhos azuis, minha avó materna de quem tenho poucas lembranças era branca. De minha avó paterna, negra, com quem convivi intensamente desde a primeira infância até a adolescência, as lembranças são abundantes, fortes e reconfortantes. Essa teve 10 filhos, entre esses duas gêmeas, uma branca e uma negra. Assim, vivi os primeiros anos da minha vida num ambiente que contava com uma diversidade de cor de pele bem interessante e aparentemente harmoniosa, só aparentemente, pois pra começar ninguém se considerava negro; no máximo aceitava-se um tímido “moreno”.
Negros eram os “outros”, e eram os outros mesmo, de modo que meu pai, que adorava contar histórias e causos bem interessantes, tinha também no seu repertório causos e piadas racistas, que eram contadas com tanta naturalidade e bom humor ao ponto de jamais imaginar-me como passageiro desse navio negreiro. Ou seja, a negação da própria negritude era um instrumento de autoafirmação, de elevação da autoestima, de sentir-se superior. Na verdade, um castelo de areia que não demoraria muito para desabar sobre a cabeça de uma criança, provocando rachaduras e abalo imensurável em sua autoestima.
Era uma tarde ensolarada. Brincava feliz com outras crianças, entre elas um primo de pele branca, hospedado em minha casa. Corríamos atrás uns dos outros, de forma livre e desordenada. De repente ouço um “vem cá menino”. Solícito, paro para ver o que aquele adulto queria. Era o motorista e proprietário da Rural contratada pela minha tia para transportá-la, juntamente com meu primo de Santa Inês, a Imperatriz, no Maranhão, e após alguns dias fazer o caminho de volta; todos, portanto, tia, primo e motorista, estavam hospedados na modesta casa dos meus pais.
O moço loiro disparou com um ar de desprezo: “Não estou falando contigo, não, negrinho”. Essas palavras me atingiram como bala perdida. Não podia crer que eram dirigidas a mim. Fiquei zonzo, parado, completamente sem ação, e um novo disparo: “Vai negrinho”.
Continuei inocente, crendo tratar-se de um equívoco, só que me senti caindo em câmera lenta num abismo. Daí pra frente não me lembro de mais nada, nem da brincadeira e nem se tive forças nas pernas para sair dali; só sei que os disparos provocaram um murchamento em mim, uma ferida escondida, que tantas vezes voltava a sangrar em silêncio nas encenações sobre o 13 de maio na escola, onde figurava como escravo; e nos tantos “negrinhos” que passei a ouvir, sempre zonzo.
A zonzeira teve cura. No lugar da ferida, a sangrar em silêncio, brotou um ruidoso orgulho (autoconfiança) de quem foi aprendendo a transformar sua fraqueza em força vital. Pensar sobre essa mudança é reconhecer logo o papel das lutas sociais, antirracistas, que, para além da busca e das conquistas de pautas específicas, exercem um poder libertador explosivo, capaz de nos tirar do abismo, recobrando forças no corpo e na mente, elevando a autoestima e possibilitando entender a dinâmica do sistema que se alimenta da opressão, exploração e desumanização de homens, mulheres e crianças, e que só será superado pela ação da classe trabalhadora, consciente de seu papel na articulação das lutas de classe, raça e gênero. Nesse sentido, são inúmeras as conquistas dos diversos movimentos sociais.
Orgulhamo-nos do engajamento no vitorioso movimento pela fixação dos moradores da Vila Telebrasília, que bem soube construir alianças com os diversos movimentos sociais (sindical, dos negros, das mulheres, dos sem terra, de moradia e direitos humanos) para enfrentar a discriminação de setores elitistas e da especulação imobiliária, disfarçados de preservacionistas do Plano Piloto.
Buscamos assegurar aos pioneiros, filhos e netos, o direito de morar, o direito à cidade. Vale destacar que a maioria de suas lideranças era formada de homens e mulheres negras contrariando a falácia do comodismo que muitas vezes lhes é atribuída. Diante de oportunidade concreta, soube bem protagonizar suas lutas e construir sua história. Não por acaso na entrada da Vila uma placa avisa: “Aqui tem História”.
* Professor de História e ex-presidente da Associação dos Moradores da Vila Telebrasília.