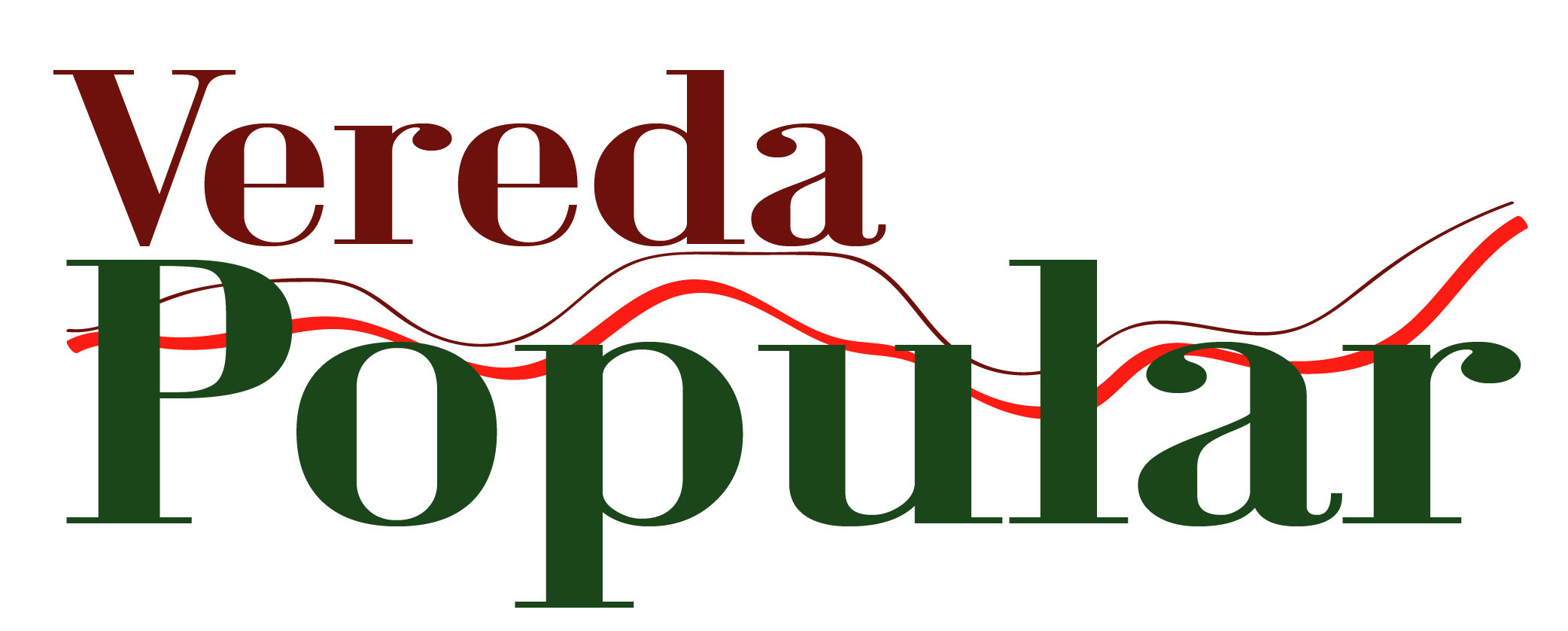Por Jorge Luiz Souto Maior*—
Está na pauta do debate nacional a questão pertinente à regulação do trabalho por plataformas. Têm-se manifestado a respeito, com grande repercussão midiática, intelectuais, acadêmicos, juristas, cientistas sociais e políticos, além de burocratas do governo e, sobretudo, os porta-vozes dos interesses das empresas proprietárias de aplicativos. Também têm se posicionado publicamente os trabalhadores e trabalhadoras que se integram, profissionalmente, a esta atividade.
Muitas abordagens, no entanto, sobretudo quando desprezam a proteção jurídica trabalhista, instigam a necessidade de se trazer algumas informações técnicas relativas ao Direito do Trabalho. De modo mais abrangente, mesmo muitos trabalhadores e trabalhadoras que atuam por intermédio de aplicativos recusam ser integrados à CLT, como costumam dizer. Mas será que as razões que possuem para tanto são justificáveis ou, pelo menos, será que não estão induzidos por algum vício de vontade?
Tentando trazer alguma contribuição especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras, para uma melhor compreensão das questões jurídicas em jogo, trago abaixo respostas sintetizadas a perguntas que normalmente aparecem nas discussões sobre o tema. Vamos a elas.
O que é a CLT?
Antes de tudo, é necessário falar sobre a influência retórica negativa que o termo CLT tem exercido sobre alguns trabalhadores e algumas trabalhadoras. Ora, a CLT é, meramente, um dispositivo legal (Decreto 5.452/43), que, embora tenha sido, inauguralmente, publicado em 1943, tem sofrido inúmeras modificações ao longo dos anos, sendo a última delas, de maior intensidade, em 2017, na dita “reforma” trabalhista. A quase totalidade dessas modificações, ao longo dos anos e, sobretudo, em 2017, foi no sentido de reduzir ou tonar mais vulneráveis os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, para diminuir o custo da produção e para facilitar e favorecer os interesses empresariais.
E a CLT é apenas um dos documentos que relacionam os direitos trabalhistas. Estes, os direitos, estão fixados, principalmente, na Constituição brasileira (de 1988) e em Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos, assim como em diversas outras leis que tratam de assuntos determinados (FGTS; 13o salário; descanso semanal remunerado; acidentes de trabalho; etc – só para citar alguns).
Então, não seria correto dizer que quem exerce um trabalho nas condições alcançadas por essa rede de proteção jurídica é “um CLT”, vez que é bem mais que isso. As questões em torno da qualificação jurídica vão no sentido de saber se o(a) trabalhador(a) é empregado ou um trabalhador autônomo; se está integrado a uma relação de emprego ou se a relação é de um trabalho sem as características da relação de emprego.
Como alguém se insere (ou é inserido) no regime CLT, ou, mais propriamente, na relação de emprego?
Quando a trabalhadora ou o trabalhador não possui os meios de produção e não exerce uma atividade que é prestada diretamente ao consumidor final, dependendo, então, de vender a sua força de trabalho para outras pessoas ou empresas que vão explorar economicamente ou satisfazer seu interesse pessoal com o resultado do trabalho exercido, tem-se uma relação de emprego, que é apenas um nome para designar juridicamente esta relação.
Todos os direitos trabalhistas incidem na relação de emprego mesmo quando esta relação jurídica não seja formalmente reconhecida pelas partes ou até quando estas se manifestam, expressamente, em sentido oposto. Ou seja, ainda que as partes envolvidas digam que sua relação se dá nos moldes de um trabalho autônomo, caso estejam presentes os elementos que caracterizam a relação de emprego, emprego existirá e a incidência dos direitos advirá por consequência inevitável.
Os elementos fáticos em questão são: trabalho prestado a outra pessoa ou empresa de forma não eventual, remunerada e sob dependência.
Quais os benefícios de ser CLT ou, mais propriamente, de estar integrado a uma relação de emprego?
Renovando que a integração a uma relação de emprego independe de concordância expressa neste sentido, os benefícios estão representados pela integração automática dos direitos trabalhistas fixados como condições mínimas de trabalho que o empregador está obrigado a cumprir, tais como: salário mínimo; limitação da jornada de trabalho; férias; FGTS; 13o. salário, descanso semanal remunerado etc.
O(a) empregado(a), ainda, terá em seu benefício todo um regulamento que fixa obrigações ao empregador com vistas à promoção de sua saúde e para a prevenção de acidentes, tendo direito, também, de ser indenizado por eventual acidente de trabalho experimentado, direito este que é extensivo aos familiares em caso de morte do(a) trabalhador(a). Além disso, o empregado será, automaticamente, segurado da Previdência Social e participará, de forma mais direta, inclusive de forma contributiva, dentro da lógica de solidariedade, de todo o aparato estatal pertinente à Seguridade Social.
Quais os prejuízos ou riscos de ser CLT, ou, mais propriamente, de estar amparado pela legislação do trabalho?
Quando se vislumbra que a relação de emprego é o avesso do trabalho autônomo, a primeira impressão que se tem é que a relação de emprego seja pior porque nela o trabalhador perde a sua autonomia. Este é um grande equívoco, pois a relação de emprego não retira a autonomia, vez que ela é, na verdade, o atestado jurídico de que a autonomia, de fato, não existia. Dito de outro modo, se alguém trabalha como autônomo, não se poderá alterar a sua condição jurídica para a de empregado, pois não se trata de simples ato de vontade.
Mas o inverso também é verdade, isto é: se alguém trabalha na condição de um empregado, ou seja, sem autonomia verdadeira, não poderá ser considerado(a) um(a) trabalhador(a) autônomo(a).
Então, a CLT não confere risco algum de piorar a condição do(a) trabalhador(a), sobretudo no sentido de lhe “furtar” a liberdade, pois o que se dá é apenas a aplicação da lei ao fato tal qual ele se apresenta na realidade. Se a conclusão, a partir da verificação da realidade, é no sentido de que se está diante de uma relação de emprego é porque naquela situação concreta a autonomia não existia.
Quais as diferenças entre o trabalho autônomo e o trabalho assalariado?
Basicamente, a diferença está no fato de que no trabalho autônomo não existe um intermediário entre o trabalho exercido e a oferta do fruto do trabalho no mercado consumidor. O autônomo trabalha para si mesmo, nas condições que considera pertinentes, e tem para si o fruto do próprio trabalho, oferecendo este resultado, pela quantia que acha adequada, para quem dele se queira valer.
Já na relação de emprego o que se tem é a presença de alguém ou alguma entidade empresarial entre a força de trabalho exercida e o beneficiário final do resultado do trabalho. Para muitas pessoas, não detentoras dos meios de produção necessários e desprovidas de um mínimo de capital ou formação profissional – ou mesmo potencialidade de inserção individualizada na concorrência de mercado, a opção que resta é vender a sua força de trabalho no contexto de um empreendimento alheio. Quando este tipo de venda de trabalho se dá de forma não eventual, tem-se por configurada a relação de emprego, como base de incidência de direitos que buscam impedir que a relação de dependência que se estabelece sirva a quem emprega, impulsionado pela concorrência do mercado ou por outros desvios morais e culturais, para uma exploração sem limites do trabalho.
A CLT, ou, dito de forma mais tecnicamente precisa, a legislação do trabalho exclui a liberdade do trabalhador?
Dada a diferenciação acima apontada, a configuração da relação de emprego e, consequentemente, a aplicação da CLT e demais dispositivos jurídicos trabalhistas, não eliminam a liberdade. Na verdade, como dito, trata-se de um atestado de que se está diante de uma relação entre pessoas onde a liberdade já havia sido suprimida. De todo modo, como os direitos legitimados na ordem capitalista não vão ao ponto de subverter a relação capital-trabalho, ou seja, não representam uma emancipação plena da classe trabalhadora, o conjunto de direitos inscritos no Direito do Trabalho, mesmo partindo do reconhecimento da ausência de liberdade quando alguém é obrigado, para sobreviver, a vender a sua força de trabalho ao capitalista, não operam para conferir uma liberdade plena e sim para impedir que a dependência implique em uma exploração sem limites.
Cabe, de todo modo, a ponderação de que o Direito do Trabalho, na parte que reflete as conquistas dos movimentos sociais trabalhistas, instrumentaliza e torna legítimas as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras por melhores condições de vida e de trabalho. Na atuação coletiva, a classe trabalhadora encontra respaldo jurídico, inclusive para construir espaços de liberdade e de democracia também nas relações de emprego.
Dada a desigualdade econômica, nas relações de trabalho dependente não há, concretamente, plena liberdade e o Direito do Trabalho opera para minimizar os efeitos dessa relação, valendo destacar, por oportuno, que sem o Direito do Trabalho o que resta é apenas a opressão e a exploração sem limites do trabalho e não uma relação com liberdade plena.
É importante destacar que já se constatou em várias experiências históricas que quem se vale do trabalho alheio para implementação do seu negócio é recorrente nas tentativas de se livrar dos limites impostos pelo Direito do Trabalho e, para tanto, não raro, forja uma situação de autonomia, conferindo uma aparência de liberdade ao trabalhador, que, em verdade, não passa de uma “liberdade” para escolher o modo como se vai disponibilizar o trabalho, o que quase sempre se faz acompanhar da estratégia do pagamento de ganho em conformidade com a produção, induzindo o trabalhador “livre” a se “escravizar” ou se “reificar” pela própria vontade de trabalhar sem qualquer limite para ganhar mais, com o gravame de que com o transcurso do tempo, diante da lei de mercado da oferta e da procura, promove-se uma redução do valor-hora do trabalho, o que se opera de modo ainda mais facilitado quando a relação de trabalho, movida pela fraude cometida, se vê formalmente fora da proteção jurídica trabalhista.
A CLT, ou, dito de forma mais tecnicamente precisa, a legislação do trabalho confere um poder do empregador sobre a vida do empregado?
A legislação trabalho, por princípio, objetiva limitar o poder econômico do empregador. Mas, como se trata de uma ordem jurídica da sociedade capitalista, esta mesma legislação reconhece a validade da compra da força de trabalho e a possibilidade de o comprador dirigir a execução dos serviços em conformidade com os interesses da produção. Dirigir a atividade não representa, no entanto, uma supremacia do empregador sobre a pessoa do empregado. Ocorre que, no caso brasileiro, dado a não superação plena do escravismo, o implemento de uma legislação do trabalho só foi possível por meio da formulação de uma conciliação com o poder econômico.
Assim, em troca do reconhecimento estatal dos direitos trabalhistas que há muito já vinham sendo conquistados pela mobilização social de trabalhadoras e trabalhadores, a legislação institucionaliza na década de 30, além de criminalizar as greves e estabelecer um controle estatal sobre a atuação sindical dos trabalhadores, acabou conferindo aos empregadores uma espécie de poder “disciplinar”, para que se pudesse doutrinar a conduta dos trabalhadores, tudo em conformidade com os interesses da conciliação promovida entre o Estado e o capital. Vislumbrava-se, inclusive, suprimir retoricamente o antagonismo de classe, por meio da retórica da integração a um só corpo social e pela repressão violenta das lutas da classe trabalhadora.
Essa perversão dos objetivos do Direito do Trabalho se consolidou no Brasil e ainda hoje gera o efeito da formação de relações de trabalho que reproduzem formas de opressão de trabalhadores e, sobretudo, de trabalhadoras, e, mais ainda, de trabalhadores e trabalhadoras negros e negras.
Mas é importante entender que não se trata de uma situação que foi criada pela CLT; a regulação jurídica é apenas um reflexo das estruturas culturais, sociais, políticas e econômicas que permeiam as relações sociais e que, no caso brasileiro, foi elaboradas de modo a incorporar os ideários capitalistas, mas sem superar, por completo, as bases escravistas e coloniais. A CLT, portanto, é efeito e não causa.
Colocar na CLT a culpa da submissão cultural que se impõe por ato de força à classe trabalhadora no capitalismo e, com maior ênfase, no Brasil, por ser um país de capitalismo dependente e que não rompeu definitivamente com as bases escravistas, é uma posição muito cômoda e que gera, inclusive, a grave consequência de obstar a compreensão dos fatores que efetivamente constituíram historicamente esta situação e que ainda a mantém.
Este desvio de foco quanto à culpabilidade, além disso, retroalimenta o argumento a favor de um trabalho sem o amparo da CLT e dos direitos trabalhistas que este documento simboliza, com favorecimento à retórica do empreendedorismo de si mesmo, o que apenas reforça as lógicas de submissão, de opressão e da divisão internacional do trabalho com base em economias centrais e dependentes.
O desafio que se impõe, portanto, é o de extirpar da legislação trabalhista os resquícios do corporativismo que se estabeleceu, no Brasil, a partir de raízes escravistas e para conceder poderes estatais à indústria em formação para controlar e “disciplinar” a classe trabalhadora.
Do ponto de vista jurídico, este caminho já está pavimentado com a regulação trazida na Constituição de 1988, que alçou os direitos trabalhistas a Direitos Fundamentais, ou seja, um Direito do Trabalho inegavelmente integrado às formulações do Estado Social Democrático nacional. Um olhar para os direitos consagrados na Constituição se impõe.
Há, inclusive, diversos mecanismos para se atingir esse objetivo e a atuação coletiva e organizada dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo quando integradas à noção de classe, é a forma mais promissora de se alcançar esse objetivo. Isto se comprova, aliás, pelas recorrentes iniciativas do poder econômico de dividir a classe trabalhadora e até de difundir entre trabalhadores e trabalhadores os valores que são próprios do capital, tais como o individualismo e empreendedorismo, mas sem alterar as bases materiais que os mantêm despossuídos dos meios de produção e desprovidos de capital. Reserva-se aos trabalhadores e trabalhadoras, por conseguinte, apenas uma aparência de liberdade e de autonomia.
Concretamente, pois, nada justifica a simples fuga da CLT e a rejeição dos direitos trabalhistas.
O(a) trabalhador(a) é obrigado a cumprir uma jornada de 08 horas para que ostente a condição de emprego?
Não. O que a normatização trabalhista fixa é o limite máximo de horas de trabalho, sendo, na regulação constitucional atual, 8 horas diárias e 40 horas semanais.
Assim, um trabalho exercido, exemplificativamente, por 1 ou 2 horas por dia, mesmo que seja em dias alternados e não pré-fixados, ainda que a quantidade de horas e de dias sejam definidos pelo próprio empregado, não constitui impedimento para o reconhecimento da relação de emprego. Se esta condição já estiver, inclusive, ajustada (mesmo sem ser por escrito, ou seja, pela repetição), ela se integra à relação de emprego como uma condição mais benéfica ao(à) trabalhador(a), pois, vale repetir, as normas trabalhistas são garantias mínimas, nada impedindo, pois, que se estabeleçam condições de trabalho mais favoráveis aos (às) trabalhadores(as).
Quem é autônomo tem ganho superior ao empregado?
Essa comparação é imprópria, pois não é a quantificação de ganho que define a condição jurídica de quem vende a sua força de trabalho para a satisfação do interesse alheio. Se a venda é feita com efetiva autonomia não se tem relação de emprego. Do contrário, ou seja, se a venda é feita com as condições de dependência, conforme respondido na questão 2, há uma relação de emprego e para este trabalhador ou esta trabalhadora direcionam-se, automaticamente, todos os direitos trabalhistas.
A questão só tem pertinência, portanto, se estivermos diante de uma relação de emprego que não foi formalmente reconhecida, ou seja, diante de uma fraude, mais bem qualificada como uma ilegalidade. Nesta situação o ganho do(a) trabalhador(a) parte dos custos dos direitos suprimidos pode, por deliberação de quem contrata, estar integrado ao ganho.
Assim, formulando-se uma comparação estritamente monetária, pode ser que se verifique uma vantagem remuneratória do empregado não registrado (sob falsa condição de autonomia) sobre o empregado.
Mas esta vantagem é apenas aparente, pois, nestas condições, todo o risco da atividade é transferido para o(a) trabalhador(a), enquanto que na base da relação de emprego impera o princípio de que compete ao empregador assumir todos os riscos da atividade econômica e do trabalho exercido. Além do mais, este “autônomo” não está abrangido por qualquer política salarial e mesmo pelas conquistas salariais que se alcançam por meio da ação sindical.
Assim, a tendência, com o tempo, é a perda da vantagem remuneratória e até mesmo a perda, sem qualquer garantia ou poder de resistência, do próprio posto de trabalho, para não falar das condições de trabalho adversas à saúde e à segurança.
A inserção na CLT, ou, dito de forma mais tecnicamente precisa, a integração ao campo da proteção jurídica trabalhista reduz o ganho do trabalhador?
A formalização na CLT de um(a) trabalhador(a) que estava em uma situação de fraude à legislação não gera para o empregador-fraudador o direito de reduzir a remuneração paga. Os descontos legalmente previstos, para contribuir com o sistema de Seguridade Social, devem ser feitos, portanto, sem implicar redução do ganho mensal líquido anteriormente auferido, excetuando-se a parcela devida pelo(a) trabalhador(a).
Há de se estar atento à chantagem econômica feita por fraudadores da legislação trabalhista quando expressam o “argumento” de que “mais direitos” implica em “menores salários” e até em menos postos de trabalho.
Ora, o valor dos salários não pode restar sob o controle exclusivo daquele que compra a força de trabalho. O nível salarial deve ser uma equação do confronto das forças capital-trabalho e a classe trabalhadora só consegue se integrar solidamente neste conflito por meio de uma organização coletiva que é, exatamente, aquele que o Direito do Trabalho, constitucionalmente estabelecido, visa assegurar, cumprindo acrescentar que o pagamento de salário por produção visando promover uma situação de trabalho até a exaustão, pela prática de jornadas excessivas de trabalho, constitui uma violação da proteção jurídica trabalhista.
Além disso, uma simples redução de postos de trabalho, promovida pelos empregadores como represália pela consagração de direitos, do ponto de vista do próprio interesse econômico das empresas de aplicativos não seria factível, isto porque resultaria em um desatendimento da demanda, gerando, inclusive, a abertura de espaço no mercado para novos empreendimentos no mesmo ramo.
Aliás, considerando a quantidade ilimitada de horas de trabalho a que atualmente se submetem os entregadores, apesar de terem a “liberdade” de poder “escolher” dias e horários para trabalhar, a tendência de uma regulação nos moldes da CLT vai no sentido do aumento dos postos de trabalho, já que a legislação trabalhista limita as horas de trabalho e onera o sobretrabalho, inclusive com condenações judiciais do empregador ao pagamento de indenização por dano moral quando se tem uma situação de jornadas extenuantes de trabalho.
Fato é que quando se pressupõe uma organização coletiva da classe trabalhadora, coesa na defesa de seus direitos, os “medos” que se originam das ameaças feitas pelos empregadores são injustificáveis, pois, afinal, se os trabalhadores e trabalhadoras dependem da venda de sua força de trabalho para sobreviver, o capital depende do trabalho prestado pela classe trabalhadora para se constituir enquanto tal e para ser reproduzido.
Daí porque a forma mais comum e eficazes que o capital tem utilizado para impor a sua vontade é impedir que se estabeleça uma situação em que tenha que medir, de forma direta, forças com a classe trabalhadora, Foi por meio dessa estratégia empresarial, fortemente difundida por mecanismos formadores de opinião, que os empregados passaram a ser chamados de “colaboradores” e, depois, de “autônomos”. Além disso, aliado às constantes ameaças, o setor empresarial tudo tem feito para dividir a classe trabalhadora e para estimular que os trabalhadores e as trabalhadoras reproduzam, como se fossem seus, os valores que são caros à classe empresarial dominante, no seu objetivo de auferir lucros por meio da exploração da força de trabalho.
Todos os trabalhadores amparados pela CLT, ou, dito de forma mais tecnicamente precisa, amparados pela legislação do trabalho têm os mesmos direitos e obrigações?
Há um “medo” generalizado que se espraiou inclusive entre trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos de que as peculiaridades em que o trabalho é exercido e que se lhes apresentam como vantajosas, sobretudo, a “liberdade” de escolher dias e horas de trabalho, sejam perdidas com a sua inclusão na CLT. Ocorre que, como já mencionado, a CLT é apenas um dos dispositivos reguladores da relação de emprego e também não impede a regulação do trabalho exercido em determinadas profissões de modo específico, para atender as suas peculiaridades, sem retração dos direitos básicos, por certo.
É assim que se regulam pelas leis gerais e uma lei específica o trabalho: dos(as) aeronautas; dos(as) petroleiros(as); dos(as) jornalistas; dos(as) advogados(as) empregados(as); dos(as) professores(as); dos(as) atletas profissionais de futebol etc.
E pensemos bem: se até um jogador de futebol, que chega, no caso de alguns deles, a ganhar verdadeiras fortunas e que adquirem status de “estrelas”, é um empregado CLT, qual a vantagem se pode vislumbrar, concretamente, na postulação de um trabalho não autônomo sem os direitos trabalhistas?
Nada impede, pois, uma regulação específica do trabalho por aplicativos que, partindo do reconhecimento da relação de emprego e da consequente integração ao sistema de Seguridade Social e à totalidade da rede de proteção jurídica trabalhista, estabeleça condições de trabalho que atendam aos interesses dos(as) trabalhadores(as), sobretudo no sentido de não se submeterem a regulamentos autoritários, punitivos e antidemocráticos, ou a retrocessos econômicos que sejam vislumbrados por empresas proprietárias de aplicativos, como forma de compensarem – ou retaliarem – a efetivação dos Direitos Fundamentais Trabalhistas no âmbito de seus negócios.
Fato é que a melhoria das condições de vida e de ganhos dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam, profissionalmente, por intermédio de aplicativos não precisa começar do ponto rebaixado da retirada de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora, até porque se assim for a regulação ao final alcançada, qualquer que seja ela, representará um retrocesso com relação àquilo que já se tem. Até porque o reconhecimento e a exigibilidade desses direitos não impede que outros avanços regulatórios sejam pretendidos e conquistados.
*Jorge Luiz Souto Maior é professor de direito trabalhista na Faculdade de Direito da USP. Autor, entre outros livros, de Dano moral nas relações de emprego (Estúdio editores).
Artigo publicado originalmente no portal A Terra é Redonda.
Os artigos assinados não expressam, necessariamente, a opinião de Vereda Popular, estando sob a responsabilidade integral dos autores.